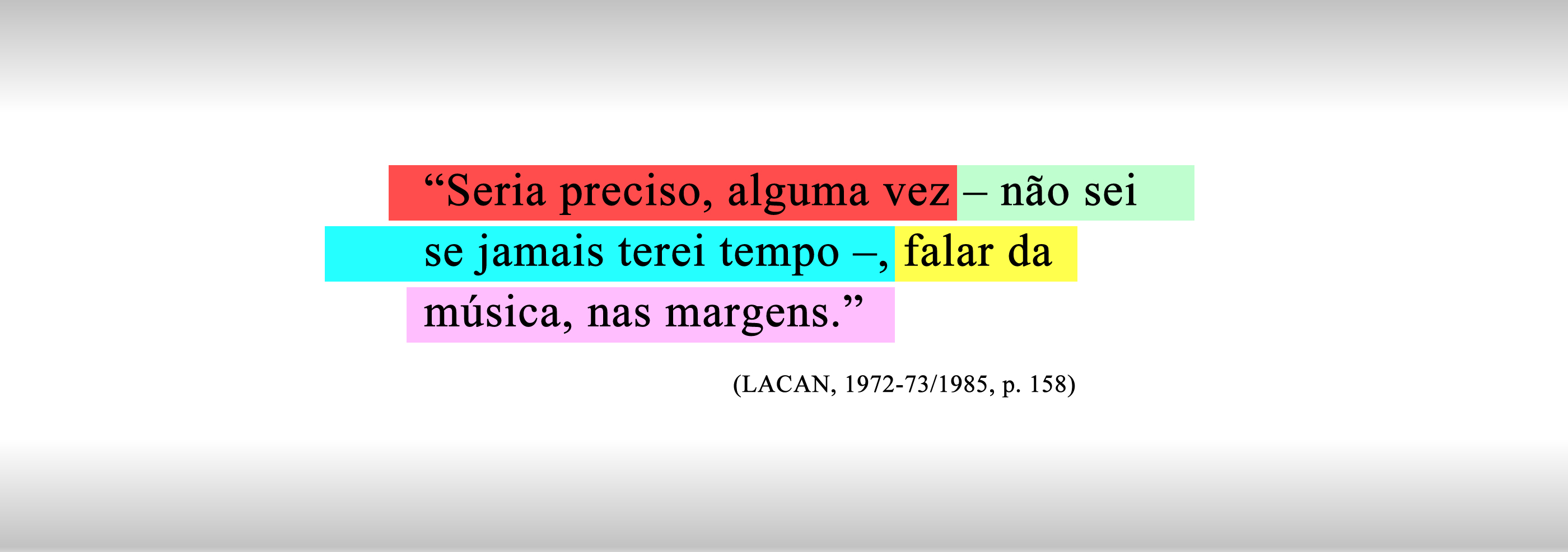
A aura da gambiarra
Antônio Teixeira
Jacques-Alain Miller nos convida a distinguir, em sua conferência sobre o “Parceiro Sintoma”, publicada em português em 2000, em Os circuitos do desejo na vida e na análise, uma concepção idealizada do final de análise como efeito da travessia do fantasma − momento em que ao sujeito se revela o modo pelo qual ele significa o mundo − daquela que se formula, a partir do último Lacan, com o se haver com o sintoma na forma, agora, de uma invenção precária diante de algo que não segue nenhum plano determinado. No lado da travessia da fantasia, temos a versão idealizada de um despertar do sujeito antes imerso na ilusão do semblante, como se para ele então se abrisse um acesso ao Real. Seja na figura antiga do prisioneiro da caverna de Platão, condenado a ver somente sombras de simulacro e que finalmente acede, pela filosofia, à verdade em sua luz solar; seja na representação contemporânea do herói do filme Matrix, que se dá conta, após ingerir a pílula vermelha, de que a própria realidade em que acreditava viver era o efeito ilusório acionado por uma maquinaria cibernética – a noção de travessia está sempre marcada pelo ideal do desvelamento. Mas quando nos encontramos no nível pulsional do sintoma, essa versão idealizada desaparece: nada de travessia, nada de pílula vermelha, a saída da caverna não é mais do que uma ilusão da caverna, posto que não existe um para além da pulsão. Ilusão e verdade se colocam no mesmo plano quando se trata do gozo que habita o sintoma: importa menos a representação supostamente verídica do objeto na realidade do que a invenção de algo por meio do qual a pulsão se satisfaça. No saber se virar com o sintoma, a invenção toma o lugar da revelação.
Isso significa, entre outras coisas, que no nível do se haver com a pulsão, a própria noção de despertar se reduz a uma ilusão idealizada. Diante de algo que não se pode franquear, prossegue Miller, somente resta ao sujeito se virar, no sentido de inventar um modo de fazer diferente com algo que ali não se modifica. Esse saber se virar − tradução precária da expressão lacaniana savoir-y-faire − é uma noção que se se opõe à ideia de savoir-faire ou de know how, termos destinados a designar o conjunto de normas técnicas codificadas na aplicação de um saber determinado de antemão. Há savoir-faire quando conhecemos aquilo de que se trata, quando não há espaço para a invenção, quando se pode estabelecer procedimentos reprodutíveis e transmissíveis de conhecimento e operação. Mas o savoir y faire passa a ter lugar quando aquilo com o qual nos havemos comporta algo de imprevisível que nos demanda uma atitude de prudência e de precaução. No âmbito do savoir-faire operamos com o conceito, que é a fixação do sentido no interior de uma prática discursiva, ao passo que quando se trata do savoir-y-faire, lidamos com algo que resiste a toda apreensão conceitual. Aqui não há uma teoria pronta, mas o saber de uma prática que se constitui no movimento de seu próprio praticar, como no caso, comentado por Michel Serres em Les origines de la géométrie, de 1993, da invenção da geometria, em sua origem mundana no antigo Egito, gestada como resposta à necessidade de se recalcular a extensão das áreas de cultivo que se modificavam após cada enchente nos entornos do rio Nilo. Se podemos, por exemplo, supor que os egípcios já sabiam, por raciocínio indutivo, que a área de um paralelogramo é igual à do retângulo que tem a mesma base e a mesma altura, o que diferencia esse savoir-y-faire da geometria construída por Euclides no século III a.C. é justamente a separação da teoria de sua necessidade prática. A dimensão de uso é um elemento essencial do savoir-y-faire que se perde quando se torna um saber previamente codificado.
Essa dimensão de uso, que não devemos confundir com a repartição de bens discursivamente determinados pelo cálculo utilitarista, é um elemento essencial do savoir-y-faire articulado ao sintoma. Para desenvolver esse ponto, achei por bem tentar estabelecer uma relação entre o uso pulsional do sinthome e a prática dessa solução improvisada tão usual no Brasil, à qual se dá o nome de gambiarra. Eis abaixo uma ilustração:

Muito embora me encantasse a ideia de aproximar a gambiarra da invenção na experiência psicanalítica, devo confessar que não sabia de início como desenvolvê-la. Da palavra gambiarra eu retinha apenas o impacto significante, sem saber ao certo o que fazer do seu significado. Mas quando pensava nisso, ocorreu-me lembrar de uma conversa que tive com um professor de Lógica, durante meu mestrado em filosofia, a propósito do uso que Lacan se permite fazer dos quantificadores universais e existenciais nas fórmulas quânticas da sexuação. “Isso é uma gambiarra”, ele resmungou, condenando o que a seu ver seria um uso deturpado dos instrumentos que a Lógica forjou para abordar o problema dos universais. Não tem cabimento escrever ![]() , como tampouco faz sentido formular
, como tampouco faz sentido formular ![]() , posto que um símbolo de quantificação não constitui isoladamente, na sintaxe construída para a Lógica dos predicados, uma fórmula gramatical sobre a qual se possa inscrever um signo de negação. Somente se pode aplicar o signo de negação sobre a variável, ou sobre a fórmula inteira, mas nunca sobre o símbolo de quantificação ou de existência. Salvo, é claro, se nos ativermos ao fato de que Lacan se propõe subverter, em sua gambiarra lógica, no lado feminino das fórmulas quânticas, o próprio valor semântico oculto na sintaxe aplicada aos termos Ǝ (existe) e ∀x (para todo x), que para os lógicos funcionam como termos primitivos, no sentido em que deles não se discute a significação.
, posto que um símbolo de quantificação não constitui isoladamente, na sintaxe construída para a Lógica dos predicados, uma fórmula gramatical sobre a qual se possa inscrever um signo de negação. Somente se pode aplicar o signo de negação sobre a variável, ou sobre a fórmula inteira, mas nunca sobre o símbolo de quantificação ou de existência. Salvo, é claro, se nos ativermos ao fato de que Lacan se propõe subverter, em sua gambiarra lógica, no lado feminino das fórmulas quânticas, o próprio valor semântico oculto na sintaxe aplicada aos termos Ǝ (existe) e ∀x (para todo x), que para os lógicos funcionam como termos primitivos, no sentido em que deles não se discute a significação.
A ideia de gambiarra se manifesta, conforme se vê na fala desse impaciente professor de Lógica, ao modo de uma infração ou de uma apropriação deslocada de um instrumento originalmente forjado segundo regras estritas de sua aplicação. É como se o gambiarrista houvesse usurpado o instrumento que uma classe forjou para um uso específico, dando a ele um destino que escapa ao controle codificado por seus detentores. Mas quando pensamos na apropriação, por parte de Lacan, dos objetos da matemática ou da topologia, ou senão no uso modificado que ele faz do diagrama linguístico de Saussure, ao suspender-lhe a correspondência biunívoca para dar primazia ao movimento do significante sobre o significado, ou ainda, se quisermos multiplicar os exemplos, em sua leitura subversiva do cogito cartesiano, constatamos sem dificuldades que o psicanalista francês é um gambiarrista mor, se é que o adjetivo mor pode ser predicado ao gambiarrista. Seja como for, se a prática da gambiarra implica uma suspensão dos códigos discursivos que prescrevem o uso de um determinado instrumento, ela deve interessar particularmente ao psicanalista na medida em que ele se vê constantemente convocado a lidar com os efeitos não codificados do significante, numa situação que o obriga a acolher o imprevisto e aliar o improviso no cálculo clínico da interpretação. Mas por que, então, não falamos apenas de improviso, deixando de lado esse estranho substantivo “gambiarra”?
Por vários motivos. O principal deles é que a ideia de improviso implica, em relação a seu uso, uma maestria ou domínio técnico da parte de quem a ele se permite. O músico que consegue tocar de improviso é aquele que domina tecnicamente as variáveis harmônicas e melódicas do seu instrumento, assim como o conferencista que fala de improviso é alguém que se sente no comando dos possíveis desenvolvimentos do seu tema. Se a palavra gambiarra nos interessa particularmente, em relação a esse ponto, é na medida em que evoca algo radicalmente distinto dessa posição de maestria. Quando fazemos uma gambiarra, é porque estamos diante de uma situação de precariedade que nos obriga a nos virarmos com algum objeto não preparado especificamente para nosso objetivo, mas que contingentemente se encontra diante de nós. Eu necessito urgentemente, por exemplo, de um compasso indisponível para realizar uma demonstração geométrica, e de repente encontro, sobre minha mesa, uma tesoura, um cordão elástico e uma caneta, e eis a gambiarra de um compasso ao mesmo tempo precário e funcional:

Isso posto, embora se possa considerar a prática da gambiarra como um caso particular de bricolagem, a gambiarra se diferencia na medida em que se encontra implicada pela pressão de uma urgência, assim como por uma relação corporal com a materialidade de seu objeto. Existe, se posso dizer assim, um materialismo discursivo da gambiarra que nos interessa particularmente, na medida em que nos permite uma visão mais clara das condições que determinam a posição do sujeito no campo de sua invenção.
Sabemos, ademais, que o próprio aparecimento do substantivo gambiarra é fruto, se podemos dizer assim, de uma gambiarra verbal.
Neologismo originalmente composto pela associação da palavra gambia, que significa “perna”, essa parte do corpo da qual nos servimos para evadir − no sentido de “pernas pra que te quero” −, essa palavra serve para indicar um dispositivo de escapatória, havendo sido inclusive usada, nessa acepção, para designar o envolvimento numa relação extraconjugal. Uma boa ilustração é a mesa improvisada de exposição de um camelô que vende produtos ilegais na rua e que deve poder ser imediatamente fechada para que ele saia correndo quando surge a fiscalização da polícia. Por sua vez, o sufixo nominativo “arra”, presente, por exemplo, em léxicos como “algazarra”, acentua o sentido depreciativo de exagero, de aumento desproporcional, numa sonoridade agreste que parece querer indicar o rasgo que seu emprego produz sobre o tecido do discurso. Em seu registro mais antigo, a palavra “gambiarra” aparece no Dicionário Caldas Aulete de 1881. Ela servia para designar o uso de extensões de eletricidade e gás inseridas, de modo não planejado, no contexto de modificação urbana que se deu no final do século XIX. As gambiarras eram ramificações precárias de fios e canos introduzidas com a nova modalidade de iluminação. Sua presença marcante em favelas deu ao termo a conotação pejorativa de solução malfeita, ou de infração, como no caso das conexões irregulares para furto de energia elétrica que aparece ilustrada na capa do disco ao vivo de Chico Buarque de Holanda

Ao nos interrogarmos, então, sobre as condições que determinam o surgimento da prática da gambiarra a partir do final do século XIX e sua expansão ao longo do século XX, podemos inferir que ela se manifesta como uma escapatória subjetiva a uma situação marcada pela expansão tecnológica dos objetos gerados pelo discurso do capitalismo, e isso de maneira particularmente marcante na região periférica do capitalismo em que habitamos. É possível encontrar, a esse respeito, um interessante estudo do arquiteto Rodrigo Boufleur, Fundamentos da gambiarra: a improvisação utilitária contemporânea e seu contexto socioeconômico, de 2013, que nos convida a pensar a gambiarra como um tipo de transformação que produz artefatos a partir de objetos industrializados, ou seja, com coisas distintas das que se encontram na natureza, no sentido em que já possuem um projeto determinado pelo propósito de sua utilização. Mas o que nos interessa, em relação a esse ponto, é saber por que a gambiarra nos toca, para além de seu aspecto funcional, por uma espécie de aura ou efeito estético ligado ao encanto de sua precariedade, coisa normalmente ausente na apresentação do objeto industrializado. Nossa hipótese, extraída da pesquisa de Boufleur, é que a gambiarra incide, subversivamente, sobre a própria estrutura discursiva que determina a produção dos objetos transformados em sua operação.
Para entendermos esse aspecto, necessitamos lembrar que os objetos cuja produção se dá segundo a lógica de acúmulo do discurso do capitalismo não são objetos concebidos para satisfazer a demanda de um sujeito singular. Os objetos, quando convertidos ao que chamamos forma mercadoria, são antes concebidos como oferta destinada a uma coletividade de indivíduos, tecnicamente denominada “mercado de consumo”. O apelo publicitário, nesse sentido, visa à produção industrial de diferenças que definem padrões de consumo. Diferenciar-se, do ponto de vista dessa lógica discursiva, é se afinar a um modelo que não distingue singularidades, mas classes que constituem mercados para o capital. Dito em outras palavras, diferenciar-se é, nesse caso, alienar-se de toda singularidade para fazer parte de uma classe particular marcada por uma codificação. E uma vez que a produção se encontra orientada não pela necessidade de quem demanda e consome, mas pelo objetivo abstrato de acumulação de capital, importa menos produzir para a demanda do que produzir a própria demanda, importa suscitar a demanda induzida por um produto destinado a ser consumido por uma classe determinada. Necessidades secundárias, como um aparelho televisor, podem ser priorizadas no lugar de necessidades primárias, como o saneamento básico, porque a própria ideia de necessidade deixa de ser uma condição natural para se tornar o efeito induzida por uma construção discursiva, como se atesta no fato de que hoje quase todos necessitamos de um aparelho celular para fazer parte de uma coletividade urbana, coisa sem a qual se vivia perfeitamente até o final do século passado. Para a lógica desse discurso, a criação de uma necessidade coletiva é mais importante que sua satisfação. Pois o que se satisfaz na sociedade industrial é, como diz Baudrillard, em La société de consommation, de 1970, menos a necessidade do homem pelo produto do que a própria necessidade de gerar o lucro engendrado pela produção.
Ao lançar, assim, um novo produto no mercado, o empresário está menos preocupado em criar objetos para um sujeito do que sujeitos para um objeto. Isso se verifica, em nosso campo de atuação, na multiplicação desenfreada de novas patologias psiquiátricas, tais como o TDAH, a distimia crônica, ou a síndrome de burnout, cujo aparecimento se deve menos a estudos conduzidos por cientistas do que a projetos criados por especialistas da área de marketing. Para cada nova doença, uma nova classe de consumo se constitui pela oferta do bem-estar na forma mercadoria das pílulas terapêuticas ou dos protocolos comportamentais de readaptação funcional.
Importante enfatizar que algo somente pode ser lançado como mercadoria, quando se encontra reduzido a seu valor de troca. Pois sabemos que, se do ponto de vista do seu valor de uso, cada objeto pode exibir qualidades distintas e incomparáveis, para convertê-lo em mercadoria é preciso que ele seja uniformizado. É preciso abstrair suas características singulares, para dele somente reter a forma de equivalência como valor de troca que pode ser calculado. Por isso, uma drugstore moderna não suscita em nós o efeito aurático ou a estranheza que se podia sentir ao entrar na misteriosa loja de um boticário. Tudo ali se encontra agora disposto em prateleiras uniformes e monótonas, a serviço do cálculo mercadológico relativo à margem de lucro do produto industrial padronizado.
Mas embora o valor de uso seja uma condição necessária para o valor de troca, no sentido de que ninguém, em sã consciência, paga para adquirir uma mercadoria absolutamente inútil, o discurso do capitalismo inverte essa pressuposição, fazendo do valor de uso uma questão secundária. No lugar de se falar, por exemplo, “vou beber algo” ou “vou me calçar”, hoje é comum ouvirmo-nos dizer “vou tomar uma coca” ou “vou botar um tênis”. Por meio da logomarca, materializada em sua aparência externa ou em sua embalagem, o discurso do capitalismo desloca a ênfase do valor singular de uso para o valor equivalente de troca, conectando metonimicamente a marca uniforme do produto a uma promessa de satisfação da demanda. Donde se explica que a marca Coca-Cola atualmente possa valer o dobro de seu patrimônio líquido, que hoje beira trinta bilhões de dólares.
Encontramos, portanto, organicamente articulados na produção em massa dos produtos ofertados pelo discurso do capitalismo em sua forma mercadoria, padrões uniformes de equivalência e de reprodutibilidade que terminam por gerar, na comunidade dos consumidores, o mesmo efeito de massa ou nivelamento social. O sujeito que se quer singular assiste a isso com desolação, como se vê na cena do personagem judeu de Woody Allen que se converte ao catolicismo, em Hanna and her sisters, e deposita sobre a mesa uma sacola de compras da qual retira um crucifixo industrializado, entre pacotes de pães de forma e um vidro de maionese. Mas isso também cria, como nota Boufleur, uma massa de objetos falidos à espera de serem recuperados mediante um trabalho de transformação, o qual resulta num valor singular de uso distinto daquele ordenado pelo imperativo do valor de troca. A gambiarra, nessa perspectiva, seria justamente o efeito desse trabalho de transformação que permite escapar da imposição do discurso capitalista, ao restaurar um valor inesperado de uso não determinado pelo valor de troca exigido pela lógica do capital.
A gambiarra ganha, portanto, o valor de uma escapatória na medida em que não gera valor de troca, no sentido em que não se comercializam gambiarras. Ela incide sobre o objeto como forma de mercadoria, subvertendo-o em sua essência. Isso não significa, no entanto, que tal transformação não produza algum tipo de valor que talvez interesse à psicanálise, por razões que vou tentar expor adiante. Ao observar, por exemplo, a figura abaixo dessa adorável gambiarra, constatamos que esse carrinho de rolimã resulta de um gesto que articula uma porta de armário de cozinha, dois tocos de madeira, um grande parafuso em posição central, quatro rolamentos de motor e duas tiras grossas de pneu. Tal artefato nos encanta na medida em que parece nos contar a história singular daquele que o construiu, revelando seu modo particular de olhar o mundo a partir de uma seleção não padronizada dos seus elementos. Nele se restaura a aura que a técnica de reprodução capitalista apagou dos objetos, como dizia Walter Benjamin, quando substituiu sua existência única pela existência em série. É como se essa gambiarra nos dissesse que somente aquela pessoa, e nenhuma outra, poderia imaginar que uma porta de fórmica industrial era o exemplar único do assento de um carrinho de rolimã à espera de ser reconhecida como tal.

Existe, nesse sentido, “uma proximidade ontológica da gambiarra com as formas singulares de vida”, conforme afirma o cineasta Cao Guimarães, que chega mesmo a conceber a existência como uma grande gambiarra, um processo de desmontagem e recomposição contínua que não cabe numa bula ou manual de instruções. Expressão de um estar no mundo e de nele se virar, a gambiarra nos atrai por se apresentar, em sua precariedade, como uma entidade viva e mutante, sendo por isso quase sempre um original, e não uma cópia, uma reprodução. Seu valor utilitário se desloca para o valor estético, na medida em que sua composição desperta em nós um desejo de invenção, um desejo por um ponto de fuga que permita nos emancipar das soluções padronizadas dos objetos produzidos pelo discurso mercantil. Mas ao mesmo tempo, ela nos mostra que, para escapar dessa estrutura discursiva, não se deve buscar a saída em seu exterior, como seria, por exemplo, a recusa de todo objeto industrial preconizada pelas práticas naturistas. Sua condição topológica é de longe mais interessante. A gambiarra aponta a saída do discurso do capitalismo no interior de sua própria estrutura, no gesto de quem se apropria do objeto industrial e o subverte no nível de sua causa final, ao dar a ele um encaminhamento não previsto pela lógica do capital.
A composição de uma gambiarra seria, pois, o exemplo concreto dessa linha de fuga, dessa escapatória no fora-dentro da estrutura. Mas falamos de um exemplo, vejam bem, e não de um modelo, para enfatizar que a orientação pela via empírica do exemplo materializado pela gambiarra deve ser diferenciada da referência ao ideal do modelo. Quando nos referimos ao modelo, retornamos à abstração, à simplificação violenta da realidade destinada a conformar o objeto a seu modo de representação discursiva. O modelo é a abstração que preside à concepção do objeto industrial reprodutível e desfaz a sua aura, que reduz o savoir-y-faire ao savoir-faire. Ele é o que se impõe quando se tenta estabelecer um padrão de tratamento de acordo com o protocolo definido pelo diagnóstico de uma patologia ou de uma situação econômica determinada. Quando isso não acontece, a culpa é do paciente que não seguiu as regras do tratamento clínico, ou do país endividado que não adotou as normas de saneamento econômico impostas pelos modelos do FMI. Mas quando nos orientamos, por outro lado, pela via do exemplo, em vez de tentarmos impor ao Real uma representação abstrata da realidade, operamos com algo que já se apresenta no nível, por assim dizer, de uma realidade provisória, no sentido em que nos servimos de elementos disponíveis na situação presente, ao mesmo tempo que os destinamos a uma função distinta daquela que prescreve o modelo ideal de seu uso.
Retomando uma terminologia cara a Lévi-Strauss, a partir de uma leitura realizada por Eduardo Viveiros de Castro, diríamos que a referência ao modelo se aproxima da atividade do engenheiro, que opera com objetos idealmente concebidos para a função padronizada de seu projeto, ao passo que o recurso ao exemplo estaria mais próximo do trabalho do bricoleur, que inventivamente desloca os objetos que tem à mão de sua função original e os converte em gambiarras, em modos imprevistos de utilização. Nessa perspectiva, acreditamos que a prática do psicanalista atualiza a bricolagem da gambiarra como um escape para a singularidade inventiva. Ele sabe, por exemplo, que o sonho se vale de restos diurnos para representar a realização de um desejo, assim como o gambiarrista se vale dos dejetos industriais. O divã, diga-se de passagem, pode ser considerado uma gambiarra exemplar. Ninguém antes de Freud adivinhou a potencialidade que poderia ter uma cadeira postada atrás de um canapé. Seja no uso que se permite fazer das pílulas terapêuticas, despadronizando o emprego prescrito em sua forma mercadoria, seja na maneira pela qual se serve de gadgets industriais, ao aceitar atender alguém, quando as circunstâncias assim o exigem, pelo telefone fixo, pelo Skype ou pelo celular, o psicanalista se serve desses instrumentos ao mesmo tempo em que observa com distanciamento irônico o fascínio que o discurso do capitalismo tenta produzir com suas inovações tecnológicas.
E assim como o bricoleur pode se servir de uma caneta como instrumento perfurante ou de uma enciclopédia como escada para trocar uma lâmpada, o psicanalista recorre aos romances de Flaubert e James Joyce como exemplos para pensar a histeria e a solução psicótica, a partir de aspectos alheios ao que normalmente se espera de um trabalho de crítica literária, sem esgotar, é claro, a possibilidade deslocada de seu uso. Pois é pela impossibilidade referida por Lévi-Strauss de completar seu projeto – no sentido de que completá-lo seria torná-lo integralmente conforme ao ideal que preside o seu uso – que tanto o bricoleur quanto o gambiarrista sempre ali colocam algo de si.










