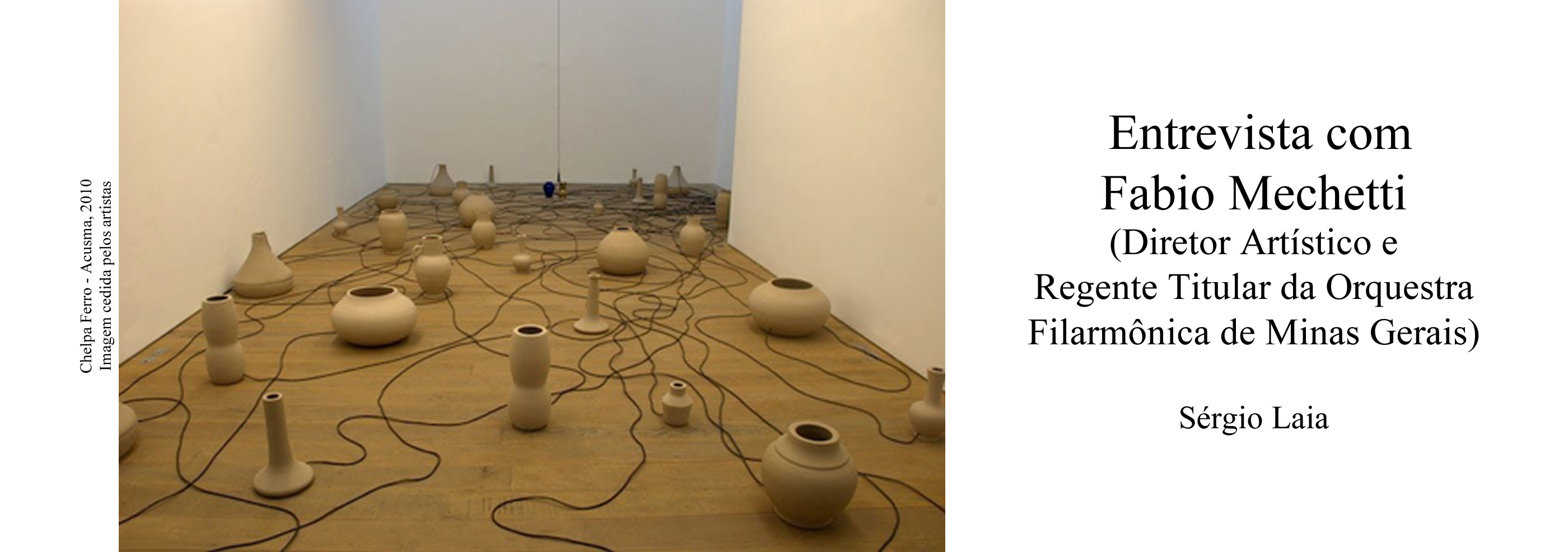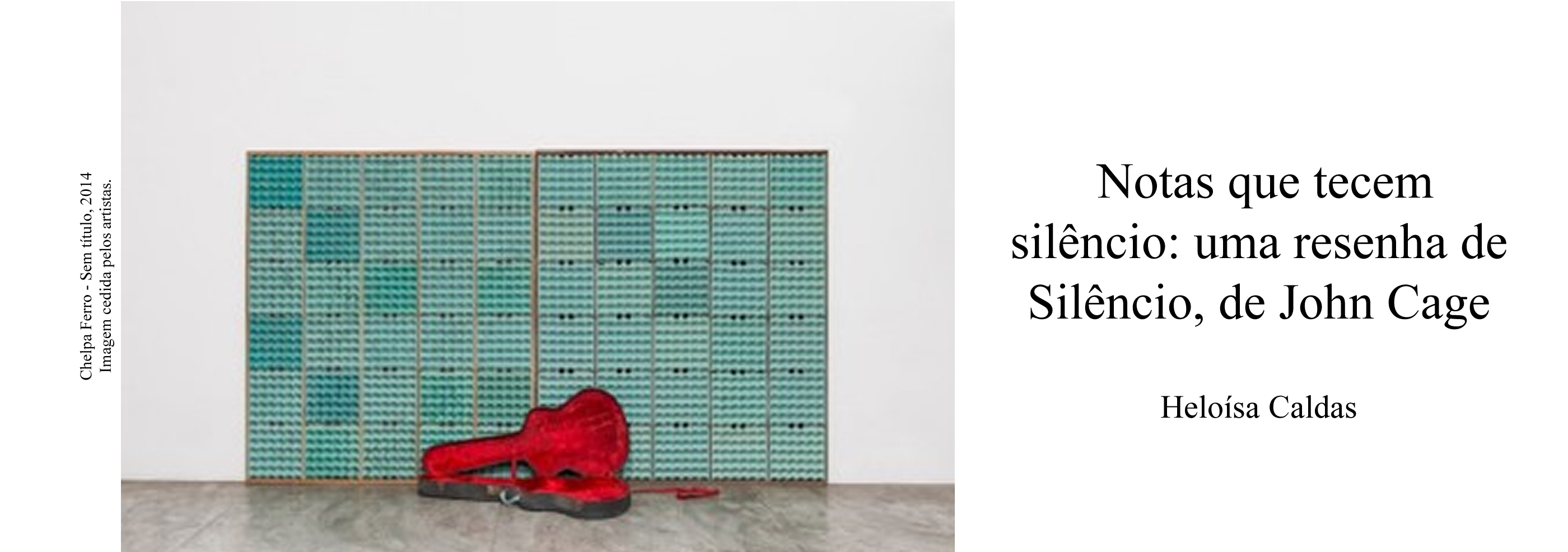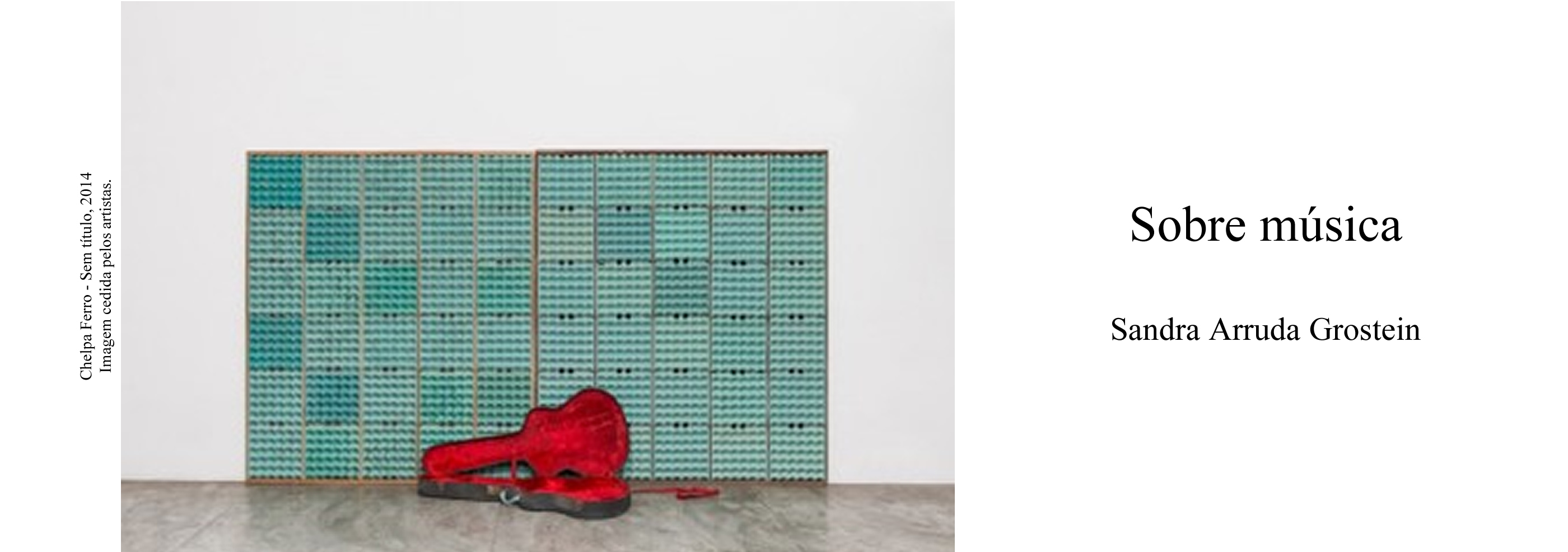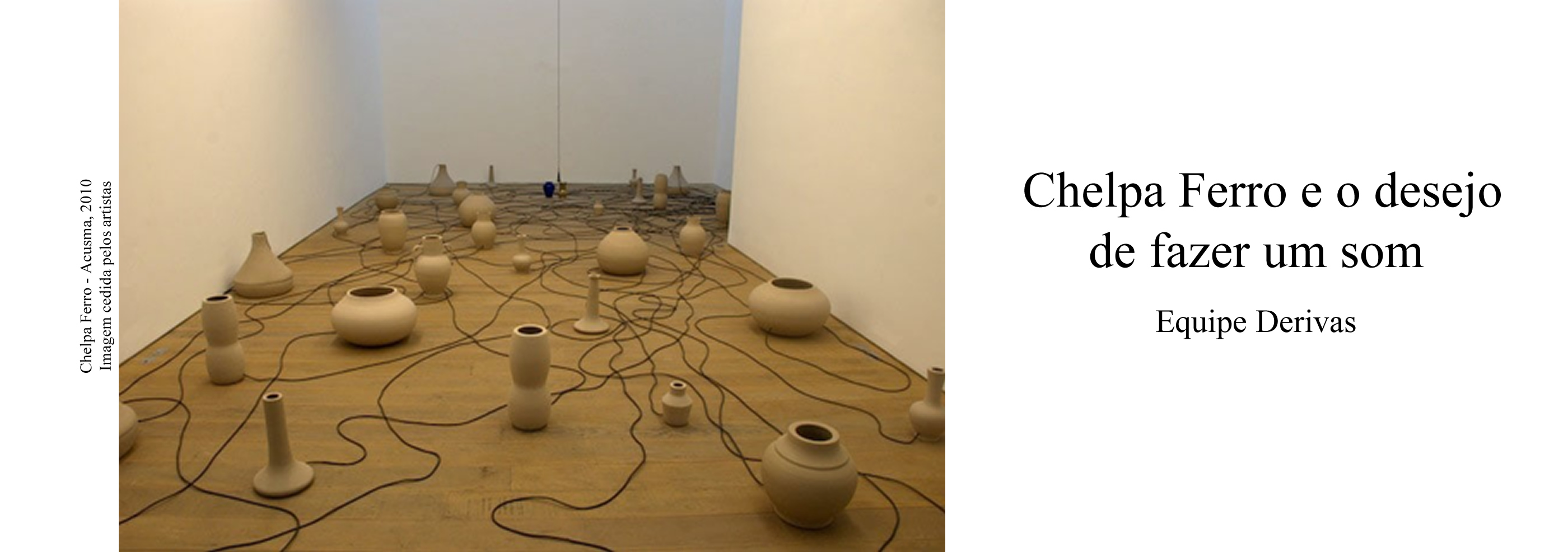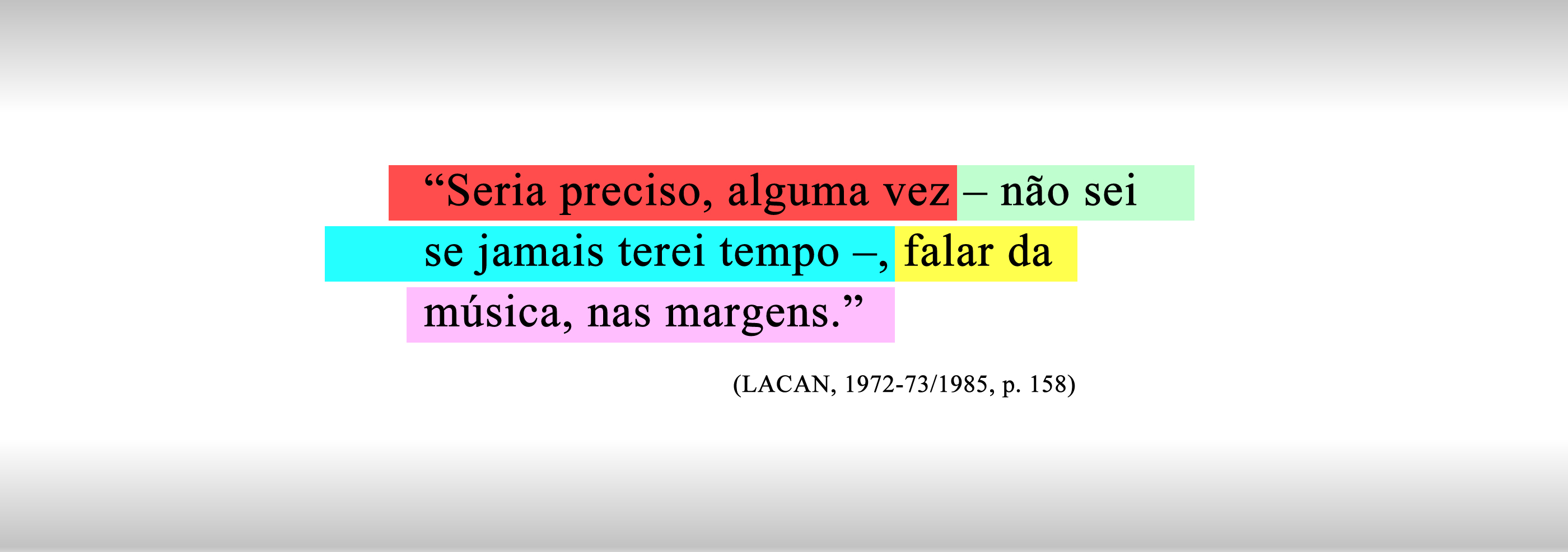
![]() Revista Derivas Analíticas - Nº 22 - Março de 2025. ISSN:2526-2637
Revista Derivas Analíticas - Nº 22 - Março de 2025. ISSN:2526-2637
A música, nas margens1
Olivier Brisson
Foi durante a escrita desta intervenção que descobri esta citação de Lacan (1972-73/1985, p. 158): “Seria preciso, alguma vez – não sei se jamais terei tempo –, falar da música, nas margens”. Sorri. Era meu desejo falar da música nas margens, mas bem consciente de que não escutamos essas palavras da mesma maneira e que não teríamos as mesmas coisas para dizer sobre isso. Mas, à questão “com o que nos divertimos?”,2 responderei com facilidade que, com os meus amigos, assim como com os meus pacientes pequeninos, divertimo-nos com a “música, mas nas margens”, e que esse terreno lúdico pode, por suas próprias características, mas à condição de ser sensível a isso, ser um espaço propício ao surgimento de um encontro com os autistas.
Ressonância da música no corpo
Mas, no que concerne a essas margens, do que estamos falando? À margem de quê? À margem dos circuitos acadêmicos de produção e de difusão que oferecem às músicas de hoje uma forma bastante limitada e normalizada em sua fabricação, formato e conteúdo. Fora das trilhas batidas, existem outras práticas, mais discretas, que se inventam no cotidiano. Esses artistas não visam a música para o grande público, mas, antes, para transmitir algo que lhes é próprio e que trabalha neles, algo de singular. A cada um seu escabelo, podemos dizer, esse escabelo que Guy Briole (2016, p. 44) define, na edição sobre música da revista de psicanálise La Cause du Désir, como
O achado de Lacan para indicar aquilo sobre o que se apoia o falasser; seu pedestal pelo qual ele pode se elevar, sublimar. [...] aquilo que o içou ao lugar de onde ele será visível para os outros. Com frequência, isso se aguenta como pode, por uma bricolagem sempre provisória.
Nesse caso, entre esses criadores, verificamos aqueles para os quais a bricolagem é concreta, que procuram, na manipulação material do som, algo da experiência física. Eles inventam e criam instrumentos ou dispositivos sonoros a partir de objetos os mais diversos, desde a fabricação de pequenos instrumentos pessoais à realização de instalações gigantescas. Outros usam um instrumentário mais clássico, mas modificando-o ou tocando-o de forma inédita; e há também aqueles que, com a própria voz ou com o próprio corpo, fazem instrumento. Para além das necessidades melódicas ou harmônicas, é o ruído em sua acepção pura de matéria sonora, em sua quase fisicalidade, que importa. O som dos graves, que comprime o abdômen ao ritmo do comprimento de onda, o som das frequências agudas, que faz cócegas no tímpano, ou as variações da intensidade dinâmica, que animam e mobilizam o corpo do ouvinte. O que importa aí é como isso impacta o corpo. Como isso o captura. O corpo como superfície que absorve, em seu próprio material, em sua carne, uma parte da onda que ele reflete.
Uma borda ao corpo indiscernível
A partir daí, talvez se possa pensar um possível laço entre as preocupações sonoras dos artistas envolvidos nesse tipo de prática e o modo com que alguns sujeitos autistas se apoiam no som. Um laço provável que concerne ao que se experimentou. Como não pensar nos jovens que estão ao nosso redor: aquele que se balança em um ritmo batendo suas costas contra a parede do armário, aquela que cantarola três notas em loop girando em torno de si mesma em uma espécie de aturdimento, ou aquele que satura o espaço de seu quarto com o som de uma ou duas estações de rádio?
Donna Williams (1993, p. 123) escreve:
Eu adorava tudo que pudesse produzir sons melódicos desde que eu era bem pequena. Eu prendia alfinetes uns nos outros em uma corrente que eu fazia tilintar em meus ouvidos [...]. Da mesma forma, eu tinha uma predileção pelo timbre de objetos metálicos. Meu objeto favorito [...] era um diapasão que eu guardava preciosamente comigo durante anos. Eu podia ficar mentalmente surda e cega a tudo, exceto à música, que sempre conseguia despertar meus sentidos. Eu sempre fiz música antes mesmo de praticar qualquer instrumento. Sem que ninguém soubesse, eu compunha melodias que guardei na minha cabeça, enquanto meus dedos davam o ritmo.
Dessa investigação sensorial, muitas vezes se diz que os sujeitos autistas ali se fecham, mas podemos pensar que ela é uma tentativa de tratamento de algo, uma tentativa de se construir uma borda ao corpo muitas vezes “indiscernível”. Portanto, ao acolher isso como uma primeira ligação ao mundo, é possível escutar esse movimento em sua dinâmica e acusar sua recepção como se faria na improvisação. Com simpatia, como dizemos das cordas livres (cordas simpáticas) que entram em vibração por simples ressonância com as notas tocadas no mesmo tom.
Elsa e o sampler
Quando a encontro, Elsa tem cinco anos e meio. Ela só utiliza a fala quando pressionada ao extremo, soltando em um sussurro o mínimo possível de palavras esperadas pelo adulto. Ela usa a voz, no entanto, para gritar. Seus gritos, penetrantes e persistentes e particularmente frequentes, esgotam de cansaço seu círculo familiar e profissional. A impotência na qual o outro se encontra leva-o a tender à rejeição. Elsa é uma criança muito pálida, com uma rigidez corporal extrema, recusando-se a ser tocada e quase não aceitando que o outro se aproxime dela. Não tolerando nenhuma perda, ela está propensa a uma constipação regular, chegando até a uma frequente oclusão, e usa fraldas. É difícil perceber no discurso a seu respeito o que poderia lhe servir de ponto de apoio, de tanto que o quadro é turvado pela imagem de dejeto que a constitui no olhar dos outros. Elsa tem piolhos. Elsa tem unhas pretas. Elsa não cheira bem. Um ponto, no entanto, retorna regularmente: seu gosto pronunciado por rimas infantis e pela música dos filmes a que ela assiste em loop em sua tela.
Desde as primeiras sessões, percebo que ela não gritará, desde que sejamos dóceis à sua urgência quando ela aponta para os bonecos Playmobil e para a casa deles. Ela retira, inspeciona e instala minuciosamente os elementos de decoração e o mobiliário. Minha presença não a incomoda, mas não lhe parece ser de grande ajuda. Eu sustento, porém, esses momentos, que parecem produzir uma pausa em seu tenso cotidiano.
Um dia, ela descobre na sala de psicomotricidade um sampler conectado ao sistema de som recém-comprado. Ela pressiona as teclas e descobre que, ao fazê-lo, ela tem acesso a algumas sequências gravadas (vozes, barulhos diversos). Doravante, ela dedicará a isso toda a sua atenção. Em cada um de nossos encontros, mas também entre eles, ela retornará ao sampler sistematicamente, descobrindo, com uma prática muito disciplinada, todas as diversas opções que o objeto oferece: colocar os sons de trás para frente, aumentar e abaixar o tom, lentificar ou acelerar sequências etc. Minhas intervenções, bastante técnicas, para, por exemplo, reiniciar a máquina ou ajustar um volume, são aceitas. Rapidamente, um microfone é introduzido e conectado ao sampler. Agora, é ela quem pode gravar as sequências. Ela criará seus primeiros loops sonoros a partir do contato do microfone com seu corpo: a batida frenética do microfone sobre sua coxa, a fricção do microfone sobre seus cabelos ou sobre seus lábios. Em seguida, ela segura o microfone perto da minha boca, e eu vocalizo sons. Ela se lança nos botões e ri de transformar a minha voz. Ela recomeça a cena e acaba sobrepondo várias camadas de vozes umas sobre as outras, recortando-as à vontade, até que elas não se distinguem mais. Então, chega o momento em que ela repete essas sequências vocais que construíra. Eu escuto finalmente o timbre da sua voz. A partir daí, é a sua própria voz que ela gravará diretamente – primeiro, a respiração, depois, sussurros e, em seguida, palavras ou pedaços de frases recortadas: “atenção!”, “espere!” e “a menininha”. Ela brinca com isso [joue de cela], desde ritmos guturais ao cantarolar de rimas reconhecíveis. Com o passar dos meses, começamos a nos encontrar na sala de música, onde ela se entrega ao piano, tocando melodias bastante curtas, que acompanha cantando. Essas melodias são sempre as mesmas, com variações. Se eu a acompanho na bateria e pego o ritmo certo, seu olhar brilha e nós tocamos juntos.
Recentemente, ela me trouxe um livro. Ela aponta uma palavra, eu a leio em voz alta. Ela a aponta novamente, eu digo de novo e ela desata a rir. Ela brincará comigo [jouera de moi]3 como brincava com o sampler [jouait du sampler] por cerca de dez minutos, rindo ao me ver tentando seguir seus dedos pulando de uma palavra para outra. Coloco meu próprio dedo sobre um animal no livro ilustrado, ela o nomeará, eu o coloco uma segunda vez, ela repetirá e nós alternaremos os papéis com muitas risadas por mais alguns minutos.
Ao visitá-la em sua casa pouco tempo atrás, ela me recebe no topo da escada. Deixando-me entrar, ela se instala diante do pequeno piano que sua mãe lhe deu de aniversário. Ela coloca também seu Nintendo DS à sua direita e nos dá uma demonstração de sua nova técnica: inicia com as gravações de sua voz feitas no aplicativo de gravador de som do Nintendo com a possibilidade de modificar o som com efeitos, enquanto toca suas melodias com as duas mãos no piano. Sua mãe me diz que, nos últimos meses, ela tem passado a maior parte de seu tempo assim. Fico sabendo que ela diz meu nome quando se instala diante de seu equipamento. Ela não usa mais fraldas e o projeto “educativo” de Elsa evoluiu. Como ela está bastante engajada em suas aulas na escola, agora está previsto que ela ingresse em uma turma especializada.
Tradução: Vinícius Lima
Revisão: Cristiana Pittella
[1]Texto originalmente publicado no número 32 de Ironik!, em novembro de 2018, sob o título “La musique, dans les marges”. Expressamos nossos agradecimentos a Olivier Brisson pela autorização para sua publicação neste número de Derivas Analíticas.
[2] Essa questão – no original, “À quoi jouons-nous?” – faz uso da polissemia do verbo “jouer” em francês, uso que atravessará diversos momentos do texto. Numa tradução mais literal, “Que [jogo] estamos jogando?” é uma frase comumente utilizada como uma pergunta de tom sincero quanto ao que estamos realmente fazendo, ou melhor, o que estamos fingindo fazer; mas também pode ser lida em um sentido lúdico: “De que brincamos, nós, os adultos?”. Explorando essa face lúdica a partir da música (divertir-se com a música, tocar instrumentos musicais como uma diversão compartilhada), veremos no decorrer do texto o jogo polissêmico com as expressões que derivam do verbo “jouer” (“jogar”): “jouer à” se refere a brincar, praticar esportes, jogar jogos, cartas etc., bem como a atuar no sentido pejorativo de fingir; enquanto “jouer de” é mais utilizada para (tocar) instrumentos. Não esqueçamos também a expressão “jouer un rôle”, que diz respeito a atuar um papel, no teatro ou no cinema, por exemplo, que remete ainda à sua dimensão de improviso, de jogo livre.
[3] No francês, a expressão “jouer de moi” sugere, de forma inusitada, um uso lúdico do analista pela paciente, como se usa um instrumento. A polissemia implicada no verbo “jouer” faz ressoar aqui a dimensão de improviso e de diversão ligada à música e a instrumentos musicais, mas também certa região de equivocidade entre seu uso solitário (o uso de um material ou instrumento como objeto) e seu uso compartilhado (que inclui um outro em seu circuito, como em uma brincadeira infantil).