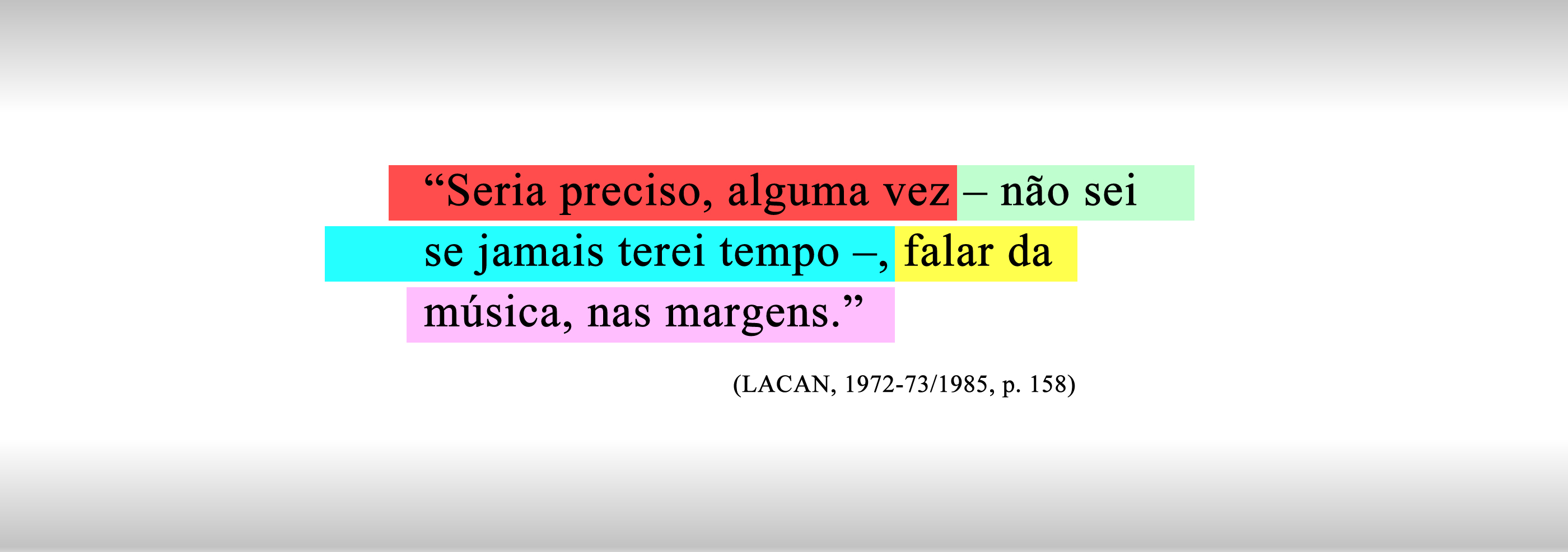
![]() Revista Derivas Analíticas - Nº 22 - Março de 2025. ISSN:2526-2637
Revista Derivas Analíticas - Nº 22 - Março de 2025. ISSN:2526-2637
Entrevista com Fabio Mechetti (Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais)[1]
Sérgio Laia: Vou começar com uma pergunta mais especificamente para você, Fabio. A gente sabe que a Filarmônica tem gravado as sinfonias de Mahler. Provavelmente, é do seu conhecimento que houve uma única, longa e decisiva sessão de análise de Mahler com Freud, em agosto de 1910. Segundo a biografia de Freud escrita por Jones, Mahler passava por uma crise no casamento com Alma. Parece que apresentava, inclusive, problemas de impotência sexual e um ciúme doentio, muitas vezes justificado pela existência de amantes da esposa. Esta, sustentando uma exigência que é comum em nossos dias, disse que, se Mahler não procurasse um analista, o casamento estaria terminado. Ele, então, se endereça a Freud. Depois de desmarcar três vezes, na quarta, Freud lhe diz: “se você marcar nova sessão e não vier, não vai ter mais como voltar a marcar”. O músico, finalmente, decide ir. Freud interrompe suas férias e vai se encontrar com Mahler em Leiden. Lá, uma sessão de quatro horas acontece e, segundo nos indica Jones, é decisiva. Depois dessa sessão, Mahler, teria dito que “entendeu por que a sua música era impedida de alcançar o ponto mais alto nas passagens mais nobres, aquelas inspiradas por emoções mais profunda” e “acabavam sendo abaladas pela intromissão de uma melodia um pouco mais trivial, menos gloriosa”. Encontra essa razão em uma cena de infância em que o pai brigava com a mãe, de uma forma muito intensa e brutal. O garoto Mahler sai de casa, perturbado por essa briga de seus pais, e encontra um realejo tocando uma canção popular famosa em Viena. Considera, então, que a conjunção dessa forte emoção, dessa conturbação presente nessa tensão vivida entre os pais e a diversão tão comum proporcionada por um realejo, se fixa em sua memória, de tal forma que um desses estados de espírito sempre vai lhe invocar o outro. Começando com essa associação, pergunto-lhe se concorda que, na música de Mahler, particularmente até 1910, quando ele fez essa única sessão com Freud, esse tipo de tensão entre o mais nobre e o mais trivial acontece, tal como ele pôde se dar conta nesse encontro.
Fabio Mechetti: Essa é uma questão muito profunda, que nem Freud explica. Mahler, além de uma personalidade complexa, tinha uma experiência profissional como músico, como compositor, que era única até aquele momento na história. Outros compositores, como Beethoven, também tiveram infâncias difíceis, mas, no caso dele, isso se manifestou de uma maneira muito complexa pela questão profissional. Mahler teve um problema, primeiro, de autoestima como compositor. Embora ele se considerasse um grande compositor, ele não era reconhecido na época como tal. Todo mundo o admirava como um grande regente, tinha uma carreira muito expressiva na Europa, foi convidado para ser regente nos Estados Unidos. Sua vida de regente sobrepujava sua vida como compositor. E o regente não é um criador, mas um recriador. A obra dele nunca foi tida, mesmo depois de sua morte, como muito relevante. Outro aspecto que eu acho importante ressaltar em Mahler é que, para fazer sua vida profissional, ele teve que se converter do judaísmo ao catolicismo, porque, na época, na Áustria, você não fazia carreira a não ser que fosse católico. Embora tenha declarado várias vezes em cartas que acreditava no catolicismo, principalmente na parte mística, e que se sentia católico, acho que o fazia um pouco por conveniência, visando sua carreira na Áustria, particularmente em Viena. Um terceiro aspecto é de ordem física, corporal. A sessão com Freud aconteceu um pouco antes de Mahler morrer. Ele já estava com problemas cardíacos que o afetavam muito. Talvez até a própria impotência sexual, naquela época, tenha sido consequência de um problema de coração que, no final, acaba por lhe ser fatal. Então, é muita coisa para uma pessoa só, e isso ele expressa na música.
Temos, ao longo de sua vida, uma evolução muito grande. Mahler começa, basicamente, como um compositor de canções: ele se valia de textos de Hesse, Nietzsche etc., e os transformava em canções que falavam do sentido da humanidade, da dificuldade de o ser humano conviver no universo que atua contra ele. Tem muito disso em Nietzsche: o universo se armando contra você. E Mahler sentia essa armação do universo, seja profissional ou pessoal, contra ele próprio. Depois, começa a incorporar essas canções nas sinfonias. As Sinfonias 1, 2, 3, 4, todas se utilizam de canções que ele já tinha escrito. Então, as canções têm um caráter, não diria folclórico, mas bastante ligado, por exemplo, aos ländlers, que era um tipo de dança, de estrutura musical daquela região da Áustria e da República Tcheca, onde ele cresceu.
Tem outra imagem que eu acho importante, além dessa do realejo, não sei se ele fala disso na entrevista com Freud, mas escreve numa carta que, quando ainda criança, o pai o levou para ver um desfile militar. Não sei se isso aconteceu depois de uma guerra, não lembro exatamente, no final dos anos 1870. O pai, todo orgulhoso de ver aquele desfile militar, mas Mahler não via os militares vestidos de farda, e sim esqueletos. Isso também tem relação com essa questão do trivial dentro do excepcional, que é a música dele. Por exemplo, você vê a marcha, que tem uma importância fundamental na música de Mahler – Primeira Sinfonia, Segunda Sinfonia, Terceira Sinfonia.., todos os movimentos iniciais, geralmente, são marchas, sejam elas militares, ou marchas fúnebres, como na Quinta Sinfonia. Estruturalmente, a marcha tem um papel fundamental na música dele. Ao mesmo tempo, no meio dessas marchas, introduz coisas totalmente contrastantes, seja em caráter, seja em escolha da região harmônica, ou instrumentação, que mostram esses soldados na marcha, mas transformados em algo muito diferente, em esqueletos, em coisas destroçadas.
Diomar Silveira: O esqueleto seria a morte?
Fabio Mechetti: Sim, ele via ali a morte. O soldado representa a vitória quando ganha, mas, ao mesmo tempo, representa a morte, as guerras trazem isso. E ele cresceu no fim do século XIX, com todos aqueles impérios, inclusive o Austro-húngaro, se desintegrando. Muita gente vê na música de Mahler uma premonição da Primeira Guerra, que explodiu logo depois que ele morreu. São dimensões que têm a ver com essa experiência complexa de uma pessoa que tinha uma personalidade muito difícil.
Há outro aspecto da sua música e que os psiquiatras conhecem muito bem. Ele era maníaco-depressivo. Em sua música, de repente, logo após uma exaltação incontida, aqueles crescendos culminando nos pratos, cai-se em uma depressão profunda. E vice-versa. A Sinfonia Ressurreição, por exemplo, começa com um trovão, uma tempestade, uma turbulência, e termina numa coisa grandiosa, que é a ressurreição, a aceitação do mundo além. Esse caráter maníaco-depressivo tem muito a ver não só com ele, mas também com outros compositores na história da música. Em Mahler, temos esse contraste muito enfático no modo como utilizava os sons da orquestra. Ele era um compositor orquestral, de sinfonias, predominantemente. A orquestra era seu veículo de expressão, e ele a expande, a faz com muito mais instrumentos, suas sinfonias têm pelo menos 100 pessoas, a voz humana entra e há ainda o coro. Por exemplo, a Sinfonia dos Mil, que é a Oitava, tem vários coros, oito solistas, coro infantil, tudo isso com uma grandiosidade que não é apenas a grandiosidade em si, mas a presença das cores e tonalidades, que ele vai explorar como nenhum outro compositor até então. Wagner já estava revolucionando um pouco a dimensão orquestral. Mais tarde, Strauss. Só bem mais adiante é que começam a introduzir mais percussão na orquestra. Mas a preocupação que Mahler tinha em descobrir novos sons, novas combinações de som, vem dessa sua decisão de explorar a orquestra ao máximo. Sempre falo para a orquestra: em Mahler, não existe mezzo. O forte é forte, o piano é piano, ou é tudo intenso, ou é tudo relaxado. Não tem esse negócio de rotina, mesmo se for uma peça longa. Na sinfonia mais longa dele, a Terceira, não existe nenhum momento que é uma rotina. Cada momento ou tem tensão, ou tem relaxamento, ou tem introspecção, ou exaltação, mas não existe rotina. E ele, como pessoa, era assim.
Sérgio Laia: De acordo com Jones, parece que Mahler sai dessa única sessão muito animado e chega a dizer a Alma que passou a ver as coisas como se tudo fosse novo. Inclusive é um período, ainda que por pouco tempo, em que ele se interessa também pelas composições da própria esposa. Antes, não se importava com isso, nem queria que ela tivesse um lugar no âmbito da música. Mahler chega também a escrever, segundo Jones, no trem de volta para casa, alguns versos: “As sombras da noite se dissiparam graças a uma palavra potente. Acabou o incessante latejar dos tormentos, agora unidos, mesclados num só acorde, finalmente, meus tímidos pensamentos e os tempestuosos sentimentos”. Parece-me que, nesses versos, reencontramos a força desses contrários, a ausência desse intermezzo, como você acabou de falar, mas Mahler faz aí menção a alguma coisa que se une num único acorde, que seria uma outra solução, diferente do meio-termo (e que nunca foi a opção dele), nem a da tensão dos contrários. Apesar de ter tido pouco tempo de vida depois do encontro com Freud, você acha que a última parte da obra de Mahler tem alguma diferença com relação ao que ele criou antes, pois nela passaria a existir esse acorde que une esses contrários? Esse “num só acorde” seria algum outro tipo de solução?
Fabio Mechetti: Eu não sou especialista no assunto. Momentos como esse, desse poema, existiram antes também. Momentos em que ele já havia se expressado, quando conheceu Alma e se declarou, como na Quinta Sinfonia, inclusive a felicidade de ter filhos; mas, logo depois, ele vai enfrentar a perda das filhas, descobrir que está com problemas cardíacos... Então, eu vejo na obra musical de Mahler mais explicação para isso que você está falando do que no poema que ele escreveu. O que ele escreveu depois? A Nona Sinfonia é seu testamento final, e ele não é otimista. A Oitava é essa grandiosa sinfonia: “vem, Espírito Criador”, com órgão, cordas muito expressivas... Ele utiliza a segunda parte do Fausto, de Goethe, como inspiração, abordando a questão do “eterno feminino”, em sua acepção ainda romântica e à qual ele tenta se apegar. Mas a Nona Sinfonia é fossa completa, na minha opinião. O último testamento dele, criativo, não foi um acorde, foi quase uma dissonância. Por sua vez, a Décima Sinfonia é quase Schoenberg, quase dodecafônica.
Sérgio Laia: Mas você acha que insiste essa tensão entre o trivial e essa dimensão mais trágica, com essa tonalidade bem mais depressiva, e não otimista?
Fabio Mechetti: A julgar pelas obras finais, eu diria que não. Inclusive, ele escreveu a Décima Sinfonia em dois movimentos e ela ficou inacabada. O primeiro movimento é quase dodecafônico. E o segundo é um scherzo quase diabólico, também nada resolvido. Quando você diz um acorde, vejo que, finalmente, os conflitos se encaixam em algo que é razoável.
Sérgio Laia: O que era um pouco, digamos assim, a esperança dele.
Fabio Mechetti: Era a única esperança, mas acho que foi uma esperança não realizada.
Sérgio Laia: Você considera que a aproximação mais tardia de Mahler a essa referência mais atonal – em que ele pode ser visto como um pioneiro ou, pelo menos, um visionário – representava, sempre no âmbito da música, uma alternativa distinta do acorde, no qual se resolveriam as contradições? Ou seja, não teríamos aí uma nova solução, ainda ausente na música clássica ocidental da época?
Fabio Mechetti: Se você, como compositor, começa a se enveredar para um caminho pós-tonal, como foi o caso de Mahler (em certa medida), de Wagner (do Tristão e Isolda) e, depois, de Schoenberg e Weber, temos mesmo o contrário: a desintegração de uma ordem. A música tonal estava organizada, tudo certinho, e ela foi se desintegrando a ponto de chegar no dodecafonismo. Então, acho que isso é mais um questionamento do que uma resposta. Quando Mahler entra no primeiro movimento da Décima Sinfonia, ou em quase toda a Nona Sinfonia, são mais perguntas que ele vai deixando, mais buscas, talvez, de outros caminhos, não é mais uma conciliação.
Sérgio Laia: Também não penso em conciliação. Acho que Mahler, talvez subjetivamente, até visasse uma conciliação, como eu acho que é a saída mais humana, mais trivial. Mas, de fato, aparece-lhe outra perspectiva, que não é essa da resolução dos contrários. Pensa que tem alguma coisa que ele talvez subjetivamente não intuísse, por exemplo, naquele poema, mas que acaba acontecendo na medida em que ele vai se destacar como uma espécie de precursor de uma tendência na música ocidental, que é absolutamente diferente dessa organização que havia antes.
Fabio Mechetti: Se ele tivesse vivido mais tempo, se tivesse continuado a compor, terminado a Décima Sinfonia, na minha opinião, estaria quase chegando no nível de Schoenberg, por exemplo, que é uma música dodecafônica. Essa era uma evolução, para mim, inevitável do ponto de vista estético, do ponto de vista de um artista que vai amadurecendo e encontrando outros caminhos a seguir. Não sei até que ponto isso era uma resposta a problemas dele como pessoa, ou uma questão artística, e é difícil mesmo, em Mahler, dissociar uma coisa da outra. Wagner, por exemplo, em Tristão e Isolda, chegou a momentos bem próximos do atonalismo. O que se imaginaria que viria depois seria uma evolução nesse sentido, mas foi o contrário: Wagner retornou para uma ópera tonal, quase modal. Acho que, de todos esses compositores do final do romantismo, Mahler talvez seja o que tem a música que mais expressa os sentimentos. O subjetivismo da música dele é intenso. Mas eu não acho de modo algum que Mahler fosse uma pessoa otimista. Nunca. Sem dúvida, cria e termina coisas grandiosas. Mas, logo depois, como na simplicidade da Quarta Sinfonia, na qual quase se vê os céus e o paraíso, a música termina quase como uma pergunta, ela não termina como uma resposta. Na Quinta Sinfonia, temos marcha fúnebre, até o adagietto, essa expressão total de amor a Alma, mas, logo depois, Mahler apresenta outra coisa contrastante. É uma espécie de resignação. O otimismo de Mahler, na melhor das hipóteses, é ele se resignar ao que é.
Sérgio Laia: Acho muito interessante o que você acaba de dizer porque, a meu ver, Mahler, sintomaticamente, até aspira a essa tranquilidade, a esse encontro com a harmonia dos contrários. Porém, sua música o leva, conforme você acaba de ressaltar, para outro caminho. Mesmo que de uma forma muito embrionária, além dessas polaridades que marcam sua obra, ele encontra outro caminho que, diferente do poema escrito após a sessão com Freud, não é o da resolução num único acorde.
Diomar Silveira: Pelo que eu estou entendendo, esse caminho é o da resignação.
Fabio Mechetti: Acho que é preciso considerar vários aspectos. Imagine uma pessoa que perde as filhas pequenas, se desentende com a mulher, sabe que ela o trai, descobre que tem problema cardíaco... e, mesmo assim, sente vontade de compor, continuar criando. O que motiva essa pessoa? Não será mesmo o impulso, a pulsão, vamos dizer, criativa? Algo da ordem de: “minha vida é isto – escrever”. De certa maneira, essa pulsão me parece fazê-la, digamos, se esquecer do que está acontecendo na rotina de sua vida: “vou me concentrar em produzir, em deixar um legado artístico, e minha vida é essa porcaria mesmo...”.
Sérgio Laia: Logo, não é uma resignação no sentido banal, mas tomar para si aquilo que lhe ultrapassa e lhe diz respeito. Acho interessante considerar que, se Mahler pudesse ter vivido mais, talvez explorasse essa vertente do atonal, essa outra perspectiva ainda desconhecida para a música clássica até sua época. Ele não deixou então de encontrar, nesse campo que sempre foi dele, outra via. Não acho que seja uma via necessariamente mais tranquila (como evoca a noção mais comum da “resignação”) porque, na vertente atonal, em certo sentido, temos uma música que incomoda mais, que tem mais ruídos.
Fabio Mechetti: Tem muito artista que, em determinado momento fala: “chega, já fiz o que tinha que fazer, dá muito trabalho”. Outros morrem. Mas há aqueles que continuam a criar até a morte. Muitas vezes, no sentido progressivo, de inovar, outras vezes, no sentido conservador. Por exemplo, Stravinsky teve uma vida relativamente longa, passou por várias fases, mas, no final, estava quase que voltando lá para trás, para onde começou. Mais recentemente, Penderecki criou uma sonoridade, uma nova linguagem, mas, no fim da vida, voltou a escrever música tonal. Então, existem os dois exemplos: de gente que vai até não aguentar mais, numa escalada estética avançada, e outros que não. No caso de Mahler, a meu ver, ele toma como sua função no mundo compor. Ele falou: “vou compor até não dar mais”. E foi isso que aconteceu, com uma inovação surpreendente.
Sérgio Laia: Eu teria mais uma pergunta que envolve essa questão do sentimento e do que extrapola esse campo mais sentimental, porque publicaremos, no mesmo número de Derivas Analíticas, uma entrevista que Judith Miller, filha de Lacan, fez com Diego Masson, um regente a quem seu pai recorreu algumas vezes quando queria saber um pouco mais sobre música. Masson cita que, nos anos 1950, Lacan frequentava muito o Festival de Música Erudita em Aix-en-Provence e que, em uma das conversas que tiveram, fez uma comparação entre Mozart e Haydn. Segundo nos relata Masson, para Lacan, em Mozart, os sentimentos estão ali, sempre compondo uma trama, uma história e, mesmo quando a música, diferente de uma ópera, por exemplo, não tem uma trama, há uma trama na composição musical de Mozart. Porém, em Haydn, e Lacan citava Haffner, tudo é mais abstrato, não encontramos, como se diz hoje em dia, uma “narrativa”. A partir dessa comparação, segundo nos conta Diego Masson, Lacan destacava o quanto era interessante que a gente pudesse gozar de uma coisa que não se compreende e que não tem significação alguma, tal como aparece na música de Haydn. O que você pensa sobre esse lado que a música pode ter, de não estar associada a essa dimensão mais humanista (ou mais psicológica) dos sentimentos e das narrativas, mas que, mesmo sem que a gente a compreenda, ela, ainda assim, nos toca.
Fabio Mechetti: Acho que a arte, em geral, tem esse papel – é o intangível. Ela é útil? Não, mas ela é indispensável. Um mundo sem arte é impensável. Mas ela lhe dá comida? Não, promove-nos uma sustentação diferente. Essa comparação entre Mozart e Haydn é um pouquinho mais difícil de explicar. Porque os dois viveram mais ou menos no mesmo período, seguiam as mesmas regras. Estruturalmente, se você pegar uma sinfonia de Mozart e uma de Haydn, a estrutura é igual. Beethoven também, Schubert, todos os compositores chamados clássicos. As regras harmônicas, as regras de composição, eram iguais. Entre Mozart e Haydn, encontro duas diferenças: Mozart sempre foi um compositor primordialmente de ópera e, então, embora uma sinfonia não tenha nada a ver com ópera, não tenha história, o discurso musical da sinfonia em Mozart se vale da ópera. Sua “cabeça” era ópera o tempo todo. Já Haydn, não tanto. Haydn escreveu 104 sinfonias e poucas óperas. Mozart escreveu muitas sinfonias também, menos que Haydn, mas muito mais óperas do que ele. Outro ponto: não em detrimento de Haydn, eu acho que Mozart é o Da Vinci da música. É algo inexplicável. A naturalidade e a inevitabilidade da música de Mozart... tudo parece tão simples, tão óbvio, e é dificílimo fazer essa coisa de uma maneira tão simples causar-nos também surpresa, um inevitável encontro com o imprevisível. Não poderia ser outra nota. Tem que ser essa, depois aquela, e em seguida mais essa, mas há sempre uma invenção que nos surpreende. Em Haydn, percebemos mais um artesão da música. Sim, ele tem coisas geniais também, mas sua música é mais previsível, vamos dizer assim, do ponto de vista das escolhas que ele fez. Mas compará-lo com Mozart é comparar um grande artista, um grande músico, com um gênio maravilhoso.
Diomar Silveira: Por sua colocação, Fabio, não seria o contrário? Se Mozart se baseava no trivial das histórias, na vida cotidiana, e Haydn era mais abstrato, então não seria mais difícil entender Haydn? Não seria mais difícil curti-lo porque nos apresenta uma música mais abstrata, enquanto Mozart conta uma história? Para as pessoas, em geral, é melhor o que soa mais como uma história, ou seja, mais fácil, mais palatável, não?
Fabio Mechetti: Sim, Mozart é mais palatável que Haydn.
Sérgio Laia: Mas o que impressiona Lacan é como algo que você não entende pode lhe tocar.
Fabio Mechetti: Sim, as pessoas muitas vezes dizem: “para gostar de música clássica, você precisa entender como funciona”; mas eu sempre falo: não, você não precisa entender nada, você só precisa ter predisposição de ouvir. A arte tem essa vantagem. Lógico, quanto mais você conhece, mais chance tem de apreciar, de chegar ao fundo da coisa, mas não é necessariamente esse conhecimento que determina o gosto. Falei da naturalidade e da inevitabilidade surpreendente da música de Mozart porque não tem uma nota em suas seiscentas e tantas obras que esteja errada ou fora do lugar. É tudo absolutamente perfeito. Mas nem por isso sua música é calculada. Ela é formal, não tem erros de estrutura, de regras de harmonia, contrapontos etc., mas tem também uma dimensão que é muito difícil de definir. Da Vinci, por exemplo, estudou anatomia, dissecação, desenhou, aplicou aquilo nas pinturas etc., mas isso não significa que suas obras emulem a racionalidade do que estudava. Não se pode dizer que a Santa Ceia não tenha um caráter espiritual, ou de arrebatamento, porque resulta desse preparo, dessa perfeição técnica. Por sua vez, há outros pintores em que já se percebe que a coisa é um pouquinho mais rígida, não tem essa outra dimensão, e é isso que separa os gênios dos normais.
Sérgio Laia: Diego Masson também lembra de Lacan falando de Mozart em um sentido mais glorioso. Ele procura Masson depois de ter assistido uma apresentação, já nos anos 1970, de As Bodas de Fígaro. Queria conversar porque se deu conta de que Mozart teria conseguido fazer algo que ele tentava mostrar às pessoas há vinte anos no seu Seminário, mas que elas não conseguiam entender. Tratava-se de certa disjunção que aparecia entre o texto e a música, mas sobretudo também uma disjunção entre os casais. Essa disjunção, essa não relação entre os sexos, tinha um tipo de resposta nessa ópera que não passava nem por ficar condenado ao inferno da briga de casal, nem pelo impedimento ou pela evitação do encontro dos corpos. Lacan ficou muito impressionado com o que Mozart fazia, nessa ópera, nesse contexto, e fala que, mais além do que vinha apresentando em seu Seminário, nunca havia encontrado isso tão claramente. O que você, Fabio, acha dessa escuta de Lacan?
Fabio Mechetti: Eu concordo, embora não entenda muito bem o termo “disjunção”. O que seria isso?
Sérgio Laia: Ele faz menção a uma passagem, por exemplo, em que há um jogo de sedução o tempo inteiro. Uma personagem diz não, mas é um sim, também diz sim, mas é um não. Mas o impasse se resolve no meio dessa aparente confusão.
Diomar Silveira: Isso seria uma disjunção?
Sérgio Laia: Lacan tem um aforismo de que não existe relação sexual, no sentido de que não existe uma harmonia, não existe uma proporção entre os sexos. O encontro sexual entre os seres humanos não tem uma previsibilidade, mas isso não quer dizer que não possa haver encontros.
Fabio Mechetti: Em Mozart, o que eu acho absolutamente genial é que, nas óperas, ele consegue, dentro de uma forma tradicional, expressar o texto de uma maneira que ninguém, até ele (e muito poucos depois dele), conseguia. Por exemplo, em As Bodas de Fígaro, a música da Condessa é feminina? É. Mas como? É em mi bemol maior, tem 3 bemóis, é 2 por 4... A música do Conde é masculina? É. Mas e quando temos um dueto? É tudo a mesma tonalidade e, assim, se uma era feminina e a outra não, mas ambas têm as mesmas notas, como é que pode haver essa diferença? Isso também tem muito a ver com o libretista: ele teve a sorte de ter o Da Ponte, que também era um gênio. Então, por exemplo, no dueto do Conde com a Susanna, que é a serva que vai se casar com Fígaro, mas o Conde quer ter os direitos da primeira noite com ela: é impressionante como, dentro da mesma melodia, Mozart consegue imprimir uma linha dominadora do Conde, e uma linha não submissa da Susanna, que diz “não”, mas sem desafiar a autoridade dele. Sobre a questão sexual, sabemos que não era permitido nenhuma coisa muito aberta na época, mas a intuição, o erotismo de imaginação, é muito prevalente. Don Giovanni tem muito disso. Por exemplo, num dueto entre Zerlina, uma camponesa, e Masetto, que acabou de apanhar de Don Giovanni e tem seu corpo todo doendo, Zerlina vai lhe fazer um agrado e fala: “está doendo?”. Ele responde: “está doendo aqui, está doendo aqui”. “E o resto?” – ela pergunta. Responde-lhe, então Masetto: “O resto, não”. E a sexualidade se diz e se insinua aí, na maneira como Mozart constrói a melodia nesse dueto – é absolutamente genial!
Sérgio Laia: É isso que, acho, surpreendeu Lacan.
Fabio Mechetti: Minha tese de mestrado na Juilliard School foi sobre a noção de tempo nos recitativos das óperas de Mozart. Tem o tempo metronômico, o cronológico, em que a coisa se passa, e o psicológico. Por exemplo, as árias não têm ação. É o momento em que o tempo para, e tem o tempo psicológico, de autorreflexão, de expressão de sentimentos. Nos recitativos, a cronologia vai acontecendo, a história se desenrola. A maneira como ele é capaz de manipular esses tempos é genial, porque você não sente o tempo passar. O tempo está passando, lógico, mas é impressionante, em Mozart, como a gente não sente o tempo passar, como ele maneja os tempos com grande simplicidade. A música dele não tem nada aparentemente extraordinário, é aquela orquestra de madeiras 2-2-2-2, não tem percussão... Mas, com o mínimo possível, ele era capaz de exprimir o máximo de emoções.
Sérgio Laia: Mudando agora de assunto, gostaria de lhe perguntar sobre sua função de maestro, junto aos músicos: como você vê essa função? Eu lhe pergunto isso porque não é incomum que o maestro seja associado a uma figura de poder. Temos exemplos, na história da música, de maestros muito rígidos e até mesmo despóticos, embora nem por isso menos geniais. Também poderia lhe citar, a esse respeito, duas referências cinematográficas. Fellini, com o Ensaio de Orquestra, mostra-nos como a destituição de um maestro acaba sendo um acontecimento terrível para todos. Ou, mais recentemente, no filme Tár, teremos uma regente tomada por sua relação com o domínio, que ela exerce e, ao mesmo tempo, que a deixa abalada e aterrorizada. Nesse contexto, eu lhe evocaria também uma célebre passagem em que Lacan dizia para os estudantes participantes de Maio de 68: “o que vocês querem, no fundo, é um mestre, um senhor”. Lacan o dizia porque tinha a concepção de que a revolução era, literalmente, voltar tudo ao mesmo lugar, uma re-volta. Por isso, achava que a revolução copernicana não era tão inovadora porque ela mantinha a noção de centro, mesmo retirando deste a terra para alojar, aí, o sol. Para Lacan, Kepler é quem inovou, quando mostrou o movimento do sistema solar em elipse, e não em círculos. Logo, para Lacan, as coisas mudam quando se muda a forma, os modos de funcionamento, e ele via a psicanálise como uma experiência na qual as pessoas poderiam passar a ter uma relação com o domínio (pois o inconsciente é um dominador) de uma forma diferente. Assim, Lacan chegou mesmo a formular que a experiência da análise permitiria às pessoas terem, em relação aos seus significantes ordenadores, uma relação “menos besta”. Por isso, nos interessa escutá-lo sobre sua experiência como maestro, tendo em vista essas histórias que circulam sobre a função dominante, ordenadora, do maestro.
Fabio Mechetti: Esses estereótipos não faltam, mas, na vida real, não é bem assim. Primeiro, a evolução histórica da figura do maestro acontece por um motivo. A música foi se tornando cada vez mais complexa, as orquestras, cada vez maiores, e surge então a necessidade de alguém organizar essa expansão, organizar um pensamento entre vários músicos com relação ao compositor. Historicamente, os primeiros maestros foram compositores. Lully, Berlioz, Liszt, Wagner, todos regiam suas próprias obras. O maestro separado da obra aparece mais no fim do século XIX.
Diomar Silveira: Tem um marco de uma pessoa, de um maestro, a partir do qual isso acontece?
Fabio Mechetti: Um marco, não. Mas Mahler é um exemplo disso. Ele regia muito mais obras dos outros do que as dele próprio. De qualquer maneira, a necessidade do regente aparece historicamente a partir da exigência de um elemento unificador, de um pulso interno, para 50, 60, 70, 80 músicos, pois a orquestra foi aumentando... Um regente que, de uma certa maneira, não cria nada, pois só está recriando uma obra composta por um músico que deixa de ser necessariamente ele próprio, e acredito que a verdade seja essa. Nesse contexto, como cada músico tem a sua parte, não é o todo, o maestro acaba sendo quem vai transmitir como cada um deve tocar. Por muito tempo, o maestro, como a palavra indica, foi realmente um professor, um mestre. Imagina o que era ser um músico do século XVIII, diante de uma sinfonia de Beethoven, e você nunca ouviu aquilo, nem tinha alguma gravação como referência: quem é que vai ensinar você a tocar aquilo? Então, não é sem razão que a própria palavra “maestro” vem de ensinar. O maestro era um construtor de uma certa concepção musical. Na medida em que os músicos foram melhorando em qualidade técnica, as orquestras expandindo, tocando obras compostas há 200 anos, contando com todo esse arsenal que vai se acumulando e sendo gravado ao longo dos séculos, o foco mudou um pouquinho. O maestro passou a ser um símbolo de uma orquestra. A associação de uma orquestra com um maestro se consolida: Berlim e Karajan, Concertgebouw e Haitink, Chicago e Solti. Começou essa identificação, que é, inclusive, mercadológica, mas também artística, porque esses maestros imprimiram uma sonoridade, um caminho, uma experiência artística diferente para cada uma dessas orquestras, assim como passaram a ser, cada um, a “cara”, a “marca” de uma orquestra. Nesse contexto, retomo a questão do maestro associado ao déspota, porque há várias coisas em jogo. Músicos não são instrumentistas, eles são artistas, cada um tocando seu instrumento, cada um tem uma ideia de como a coisa deve soar, cada um tem uma história para contar com seu instrumento e, assim, é complicado conseguir uma unidade. Porém, quanto mais individualista é um músico da orquestra, por mais virtuoso que ele seja, pior para a orquestra. Daí o respeito que o maestro projeta por ter a batuta; mas, só pela batuta, se fico apenas com isso, não há som algum sem os músicos. Então, há essa necessidade mútua para que a gente consiga realizar um trabalho, e considero que isso passou a ser entendido melhor ao longo das décadas. O maestro deixou de ser o professor, deixou de ser o ditador, e hoje, acho, é tudo muito mais colaborativo. O músico, ao mesmo tempo, quer que o maestro tenha autoridade, quer alguém que tenha consciência do que tem de ser feito. Tudo isso se dá na dinâmica de um ensaio: o músico diz para o maestro: “me diga o que tenho que fazer e, se eu não concordar, posso lhe dar uma ideia...”. Ou, então: “veja se gosta do jeito que eu estou tocando...”. Às vezes, eu mesmo, por exemplo, tenho uma imagem de uma coisa diferente, mas acho bonito o que um músico está fazendo, e está dentro do que deve ser feito. Nessa dinâmica vai se conquistando um respeito mútuo: a autoridade do maestro não é imposta, mas conquistada, pelos ensaios, pela competência e pelos concertos. Um músico, hoje, em um minuto ou menos, sabe se o cara que está lá na frente sabe o que está fazendo. E tem muita história, sobre muito maestro famoso, que, se você perguntar aos músicos, eles não estão nem aí para ele. Portanto, acho que a necessidade não é a de um ditador, mas de alguém que realmente tenha uma autoridade para tomar decisões que mantenham a integridade daquilo que está sendo orquestrado.
Sérgio Laia: Essa integridade, ou mesmo unidade, é no sentido mais convencional de uma harmonia ou de ter um lugar para as diferenças, sem que elas comprometam a complexidade do conjunto?
Fabio Mechetti: Acho que é uma questão de dar lugar ao motivo pelo qual cada um está ali. Nas grandes orquestras do mundo, como Berlim, Viena, etc., todos os músicos são excepcionais. Não tem ninguém escondendo o jogo, os próprios músicos se cobram e todos sabem que a função deles é executar aquele compositor daquela maneira, e que o regente vai lá traduzir isso. Os conflitos acontecem quando existe uma dissonância entre o que os músicos sabem que o compositor deveria fazer e o regente, que chega lá para inventar moda, ou que não tem a capacidade técnica. Eu mesmo já tive experiências, não comigo felizmente, mas observando outros regentes. Por exemplo, quando eu era assistente na Orquestra Nacional de Washington, eu via muitos regentes convidados vindo toda semana ensaiar com a orquestra. E era óbvio quando os músicos da orquestra, diante de um maestro que ficava lá se achando, mas sem mostrar sua autoridade musical, falavam assim: “olha, nessa semana, você olha para mim, eu lhe dou entrada aqui, e a gente esquece o maestro”. Portanto, a dinâmica da regência em uma orquestra não se define apenas por autoridade, não se define por imposição. Há toda uma questão do objetivo único, que é fazer o melhor possível. O músico, por pior que seja, está lá sentado querendo fazer o melhor possível. Qual é o propósito de estar ali? Para que ele escolheu ser músico? Então, acho que se tem que partir deste princípio: sei que cada músico que está ali quer fazer o melhor possível.
Diomar Silveira: Fabio, uma pergunta que eu tenho sobre isso. Você tem segurança para saber que um músico está ali porque ele quer fazer música, ou se está querendo apenas sobreviver e ter um bom emprego, um bom trabalho?
Fabio Mechetti: Músicos que têm bom emprego não são tantos assim. Mas o que fez um músico chegar ali foi o amor à música. Se, eventualmente, a desilusão de estar ali, seja por questões financeiras, de salário, seja porque artisticamente não compensa, transformou aquele músico num cínico, é outra coisa. Por exemplo, em uma orquestra para a qual fui como convidado, uma orquestra que eu sabia de antemão que era limitada e na qual me apresentei mais por amizade e apoio ao diretor que me convidou. Cheguei, comecei a trabalhar, e músicos vieram falar comigo: “fazia tempo que eu não estava animado em fazer música, fazia muito tempo que eu não queria, mas agora vou até estudar”. Então, por pior que seja o músico, eu acho que ele, mesmo ganhando mal, e com todas as condições adversas, quer fazer boa música.
Sérgio Laia: Você tinha falado no início dessa relação da música com o inútil. Acho que tem que estar muito investido em uma causa para se dedicar ao inútil. Então, mesmo que isso implique num ganho, numa sobrevivência, porque todo mundo precisa de dinheiro, acho que realmente tem certas profissões em que esse apelo a uma causa é maior. Há um engajamento do desejo de cada um que é mais decisivo: a pessoa está ali e passa por uma prova de fogo o tempo inteiro.
Fabio Mechetti: O artista, em geral, e o músico, em particular, historicamente, sempre foram muito pouco valorizados. As pessoas não entendem o quão difícil é fazer aquilo, o quanto lutaram para chegar ali, o quanto tiveram que estudar, investir. Acho que existe sempre uma posição do artista de que “o mundo não nos merece”. E o que o faz continuar a fazer o que faz é a arte que ele está fazendo. É bom que a gente tenha aplausos e “bravo” ao final, mas, muitas vezes, eu participei de concertos em que o público não reagiu de uma maneira entusiástica e a performance foi maravilhosa. Os músicos se sentem compensados simplesmente pelo fato de terem feito música bem. Se as pessoas entenderam ou apreciaram, não é tão importante, pois o prazer está em fazer a música que fazem.
Sérgio Laia: Você, Fabio, chegou a afirmar certa vez que “todo projeto de excelência no Brasil, principalmente na área cultural, é um ato de ousadia, coragem e heroísmo”. Sabemos, através de outras entrevistas, que sua história com a música e a regência vem desde muito cedo, já que seu avô e seu pai foram maestros no Theatro Municipal de São Paulo, ambiente que você frequentava cotidianamente. Quando temos a chance de estar na plateia, assistindo a um concerto sob sua regência, é transmissível e marcante a expressão de sua conexão profunda com a música. Você poderia nos contar um pouco mais sobre esse lugar que a música tem na sua vida?
Fabio Mechetti: Bom, é o que eu sempre falo: a música, a gente nunca escolhe, a gente é escolhido por ela, o músico segue na música porque não tem outro jeito. Também acredito que a música, a arte, têm essa função de transformação da sociedade. O preço que se paga é o que falei: você tem que ter muita coragem, muita ousadia, para enfrentar os obstáculos que a gente enfrenta para fazer coisa de qualidade. Por exemplo, aqui no nosso dia a dia, passamos todo dia resolvendo problemas, do ponto de vista administrativo, de captação de recursos, político, às vezes até pessoal, de vez em quando temos que dar uma de psiquiatra e lidar com problemas de relacionamento com os músicos. É um preço a se pagar para, depois, chegar na quinta e na sexta-feira e reger um poema sinfônico de Strauss, causando arrepios e choros na plateia. Nesse sentido, eu acho que você tem que acreditar que a música tem essa força e tem que fazer com que a experiência produzida ali no palco justifique essa crença, esse seu esforço. Na minha opinião, isso só se justifica se for feito com qualidade. Aqui eu acho que todos os músicos sabem que a expectativa é essa, não minha, mas deles próprios. Porque é isso que faz com que a Filarmônica seja uma orquestra de qualidade e de excelência. Essa crise que a gente teve recentemente, e que ameaçava nossa sede, por exemplo, não fosse o fato de que a Filarmônica se transformou numa referência nacional de gestão, de qualidade artística, a gente não teria 100 mil assinaturas no abaixo-assinado na hora em que tentaram nos tirar a Sala Minas Gerais. A gente não teria esse apoio em uma semana, e isso se conquista com a perseverança de fazer o que estamos fazendo. No mundo inteiro, a gente escuta que a música clássica está morrendo. Não é verdade. A gente vê que ela continua efervescendo em várias partes do mundo. Mas a dificuldade de realizá-la aqui no Brasil é muito grande, devido ao abismo que a gente tem em termos de oportunidade, de formação de base, de formação de público, de compreensão da nossa função na sociedade, de falta de apoio do governo, de falta de entendimento do próprio empresariado daquilo que ele deveria fazer em relação ao que acontece. Temos, no Brasil, só 28 orquestras profissionais, full-time. Os EUA têm 2 mil. Só em Tóquio há 14, ou seja, a metade do que tem aqui no Brasil, um país de 200 milhões de habitantes. Dessas 28, duas, três ou quatro fazem a coisa no nível razoável, aceitável, em relação ao que deveria ser. É por isso que falo que é um ato de heroísmo: qualquer pessoa sã desiste porque, realmente, muitas vezes não vale a pena. Mas, quando você vê que tem gente chorando na plateia, quando viaja para o interior, vê gente emocionada, quando vê que tem, na academia, jovens que estão começando e que acreditam que vale a pena ser músico, isso tudo é um motivador para continuarmos insistindo.
Sérgio Laia: A gente nota que tem, então, uma transmissão. Acho que esse é também um aspecto que aproxima a música e a psicanálise. Porque, se a gente compara o que ganha um psiquiatra com os benefícios provenientes de laboratórios farmacêuticos, e o ofício de um analista, verificamos que este último se aproxima do que acontece com um músico. Não se sustenta isso sem uma vontade, uma determinação, uma convocação do desejo, uma decisão... Ainda nesse contexto, mas nos deslocando um pouco para outra perspectiva, como vocês, Fabio e Diomar, veem a relação dos jovens com a música de concerto hoje? Nesses 17 anos na Filarmônica, vocês acham que houve alguma mudança na formação das novas plateias? Percebem que há novas gerações interessadas nesse tipo de música? Que diferença vocês veem entre o público brasileiro, talvez até mineiro, e as plateias, o perfil de ouvintes, em outros lugares do mundo?
Fabio Mechetti: Primeiro, existe certo preconceito de que o que a gente faz é para um público mais velho, que só tem gente de cabelo branco nos concertos. Não é verdade. A gente tem muita gente jovem na plateia. Poderia ter mais? Poderia. Seria bom ter mais? Sim. Por isso, a gente investe em formação de público, e de músicos, de plateia. O que é a diferença no Brasil quanto a formar plateia? Não há música nas escolas. A maioria dos músicos vêm hoje em dia das igrejas, das bandas do interior. A gente faz audições para a academia e tem muita gente querendo vir estudar. São jovens. Eu vejo solistas, maestros de fora, que chegam e falam: “nossa, que plateia jovem você tem”. Comparado com a Europa, com os Estados Unidos, temos uma plateia bastante jovem. Mas é um processo. A questão é que a gente não vai resolver séculos de negligência em 15 anos. A gente tem que investir, mostrar que tem um caminho bom. Por exemplo, começamos uma campanha para os jovens de 12 a 18 anos, com um desconto significativo para criar o hábito de se ir a concerto. Ao mesmo tempo, temos também o entendimento de que a música clássica nunca vai ser de consumo de massa. Nos anos 1940, depois da guerra, as orquestras dos Estados Unidos pensaram que tinham que fazer alguma coisa para melhorar a média de idade do público, que estava envelhecendo. Então, a Filarmônica de Nova Iorque contratou Toscanini, que era o maior nome da música; a NBC começou a transmitir concertos para a televisão; Bernstein apareceu e fazia aqueles concertos para televisão. Qual era a média de idade do público naquela época? 62 anos. Qual é a média de idade hoje? 62 anos. Quer dizer, o público de concerto não é o público jovem. É a questão da expectativa. Nós nunca vamos ser um produto para milhões de pessoas, porque o nosso produto não é para todo mundo.
Diomar Silveira: Mas essa perspectiva de não ser para todo mundo, a gente teria que ter uma outra forma de enfrentá-la. Isto porque, sendo assim, ela teria, por natureza, uma natureza elitista que é o que não queremos que ela seja. Então, teríamos aqui quase que um paradoxo.
Fabio Mechetti: A gente não pode ter a expectativa de que todos os concertos vão estar 100% cheios. Nunca vai acontecer. No mundo inteiro não acontece isso. Não é a mesma coisa Guimarães Rosa e Paulo Coelho. O número de livros Grande Sertão: Veredas que se vende por ano não vai ser o mesmo que O Alquimista de Paulo Coelho. É uma realidade. Então, “vamos pegar Grande Sertão: Veredas, transformar em história em quadrinho para chegar ao nível das pessoas”. Para mim, isso é um desserviço. Acho que a gente tem que investir de maneira que o público, pouco a pouco, chegue nesse lugar em que a arte de qualidade está. E tentar facilitar essa transição, dar condições para que as pessoas nos entendam melhor. Por exemplo, em nossos concertos aos sábados, acho importante que o maestro fale, explique um pouquinho sobre a obra, porque isso ajuda o entendimento, saber por que é o que é. Mas, quando se começa, para atrair o público, a só fazer a série Beatles, isso não é estar realmente fazendo o público gostar de música clássica.
Diomar Silveira: Para a gente, é fundamental dar o acesso, já que, quanto mais as pessoas têm acesso, mais os preconceitos caem. Por que? Porque aqui nós observamos nitidamente que o número de jovens está aumentando de uma maneira espetacular. Pois a gente está conseguindo divulgar mais, fazer política de preço, desmistificar esse produto, dizer que isso aqui não é nada complicado, que é uma beleza, que um jovem pode vir para cá e vestido do jeito que quiser. Os jovens vão sentindo assim: “eu fui, que legal, eu vi que é legal”. Podia ser numa escala muito mais rápida e maior se, por exemplo, as escolas da classe média alta tivessem alguma orientação pedagógica nesse sentido, tivessem a iniciativa de dizer: “olha, a Filarmônica faz um trabalho espetacular de difusão da música clássica, vamos fazer alguma coisa para os nossos alunos irem à Sala Minas Gerais”. Algum diretor dessas escolas já nos procurou para dizer que quer trazer os alunos aqui aos domingos de manhã? Já perguntou se é possível comprar 500 ingressos? Não vou nem falar em comprar. Eu me ateria a uma pergunta que um deles nos fizesse: “é possível trazer 500 alunos a um concerto de domingo às 11 horas?”. Nós nunca fomos abordados nesse sentido. Por sua vez, os jovens vêm aqui porque a gente fez uma política de concerto didático que também nos ajuda a obter patrocínio. Mas a gente oferece o didático para quem? Para alunos da rede pública. E por que fazemos assim? Porque o patrocinador está querendo fazer um marketing apoiado na Filarmônica, ele está querendo dizer que investe em política social. Transfere para a gente essa responsabilidade, ou a expectativa de um milagre. É como se a Filarmônica fosse transformar toda essa meninada em ouvintes de música clássica. Mas a meninada que vem é aquela das escolas públicas. Porém, se a juventude é composta por ricos, pobres, classe média, etc., como é que nós vamos atrair todos esses jovens para cá se não existe nada que facilite o acesso?
Sérgio Laia: Sem dúvida essa oferta de acesso é fundamental. Lembro-me também que Freud, depois da Primeira Guerra Mundial, fez uma conferência, uma iniciativa pré-SUS, dizendo que, diante da pobreza a que o mundo havia chegado, os analistas deveriam começar a atender de graça, mas que o fariam assim em instituições. Ele achava que, se a psicanálise não tivesse uma resposta no nível da pobreza a que o mundo chegou, ela não sobreviveria. Eu acho que se trata também da oferta de um acesso.
Fabio Mechetti: Sim, ninguém pode não gostar daquilo que não conhece.
Sérgio Laia: Realmente! Por fim, em relação ao efeito da música sobre a plateia. Você, Fabio, mesmo regendo, de costas para grande parte da plateia, já disse que percebe a ressonância da música no público. Como isso se dá?
Fabio Mechetti: É interessante: com exceção de quando tem público no lugar do coro, eu não vejo nada que está acontecendo atrás. Mas existe, sim, um intangível que me faz perceber quando todo mundo está prestando atenção ou se tem algum tipo de distração. Mas eu volto àquilo que falei antes. Quando se faz música, para mim, se tiver uma pessoa, ou dez mil, é a mesma coisa – meu comprometimento é fazer o melhor concerto possível, me concentrar na obra, independentemente de quantas pessoas estejam ali e se elas vão gostar ou não. É lógico que me coloco lá para as pessoas gostarem. Mas já tive ocasiões em que o concerto foi maravilhoso e o público não aplaudiu tanto, e vice-versa. Então, a gente constrói uma orquestra, faz esse trabalho todo, mas o motivo não é só para eu me regozijar, musicalmente, assim como os músicos. É lógico que tem também a nossa função para a sociedade. Quanto mais a gente vê que as pessoas admiram o trabalho que a gente faz, que participam, que veem que música é importante na vida delas, isso nos satisfaz, mas há também a nossa relação com a música. Os grandes movimentos de emancipação da sociedade são sempre nas áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da cultura. As pessoas acham que as grandes revoluções vêm pela política. Não vêm! Hoje, nós somos melhores do que éramos há 100 anos em muitas coisas, e graças a alguém que pensou, que inventou, que criou. Então, quando a gente faz um trabalho cultural, é difícil você medir. É como Einstein dizia: existem coisas que valem e não podem se medidas, assim como há coisas que não podem ser medidas, mas não valem. A cultura, por exemplo. Dá para medir seu impacto? Não! Mas, quando há um povo culto, a sociedade é melhor, vive melhor, é mais igual, é mais inclusiva. Isso não é um resultado propriamente político, vem especialmente da cultura, que vai se desenvolvendo pouco a pouco. Aqui, nós estamos engatinhando nesse sentido do ponto de vista cultural e, aqui, voltamos para aquela questão do heroísmo.
Diomar Silveira: Essa questão é fundamental no contexto da sociedade, pode ser um problema mundial, mas é particularmente desafiadora dentro de um ambiente brasileiro. Percebo que, nessa área cultural, temos uma dificuldade de definir, de ter clareza do que é cultura e da distinção entre cultura e entretenimento. Por exemplo, a própria Lei Rouanet, que é um instrumento de acesso à cultura, comporta também um vale-tudo, no qual cultura e entretenimento são confundidos. Então, há um universo imenso de pretendentes dizendo que estão fazendo cultura e lutando pelos recursos. Há também um termômetro na sociedade, que está mais interessada no consumo do que em qualquer outra coisa. Vivemos em uma sociedade que está empurrando tudo para o consumo. Enquanto o Fabio está fazendo seu trabalho, com a curadoria, considero que nós estamos com o melhor curador do mundo na música clássica, mas, enquanto gestor, estou sofrendo a pressão de muitos setores que falam: “aquele maestro não devia estar fazendo isso, essa música que ele faz é muito difícil”. Por que dizem isso? Porque esse pessoal está achando que o mundo está mais interessado em que a gente produza um produto de consumo de massa. Eu já tive que escutar algo como: “seria melhor se a gente fosse na Filarmônica e saísse assobiando a música; porém, para escutar aquela música que a gente não entende, nem pode assobiar, eu não vou lá não”. Ou então, o patrocinador que nos pede para tocar só valsa porque todo mundo vai sair feliz do concerto. Então, você tem que sair daqui feliz. Você não pode sair daqui pensando. Assim, numa sociedade igual à brasileira, há métricas para medir música e público que são muito mais ligadas a um consumo de massa do que a uma qualidade do próprio consumo.
Sérgio Laia: Por isso, retornamos ao heroísmo e à força do desejo. Acho que já podemos finalizar a entrevista. Gostariam de falar alguma coisa sobre os próximos passos da Filarmônica?
Diomar Silveira: Fico sempre pensando no futuro dessa orquestra, e o meu desejo é que ela perdure por séculos, como as orquestras europeias, naquilo para o qual ela foi criada e que a gente conseguiu manter até agora. Mas eu tenho um temor imenso de que a gente não consiga. Porque eu vejo essa pressão muito grande que vem tanto de uma esquerda, quanto de uma direita, contra a orquestra, chegando no mesmo lugar. Há uma esquerda que fala que isto aqui é muito sofisticado, não é para o povo e, por isso, o estado não tem que financiar. Os da direita, por outro lado, falam que isto aqui é muito sofisticado, é consumo de rico e, por isso, não tem que ter recurso público, tem que se autofinanciar. Isso, muitas vezes, me aflige. Mas há uma frase, que Fabio sempre me diz, e que me reorienta: “Let´s do our best and damn the rest”.
Sérgio Laia: Excelente! Muito obrigado.
----------------------------------------------------------------------------------------
[1] Esta entrevista contou com a participação de Diomar Silveira (Presidente do Instituto Cultural Filarmônica, Organização Social gestora da Orquestra e de sua sede, a Sala Minas Gerais). Por sua vez, algumas das perguntas feitas por Sérgio Laia tiveram como ponto de partida questões elaboradas por Cristiana Pittella, Daniela Viola, Raquel Guimarães e Virgínia Carvalho. A equipe de Derivas Analíticas agradece a Fabio Mechetti e a Diomar Silveira pela disponibilidade no sentido da realização desta entrevista e por sua edição.










