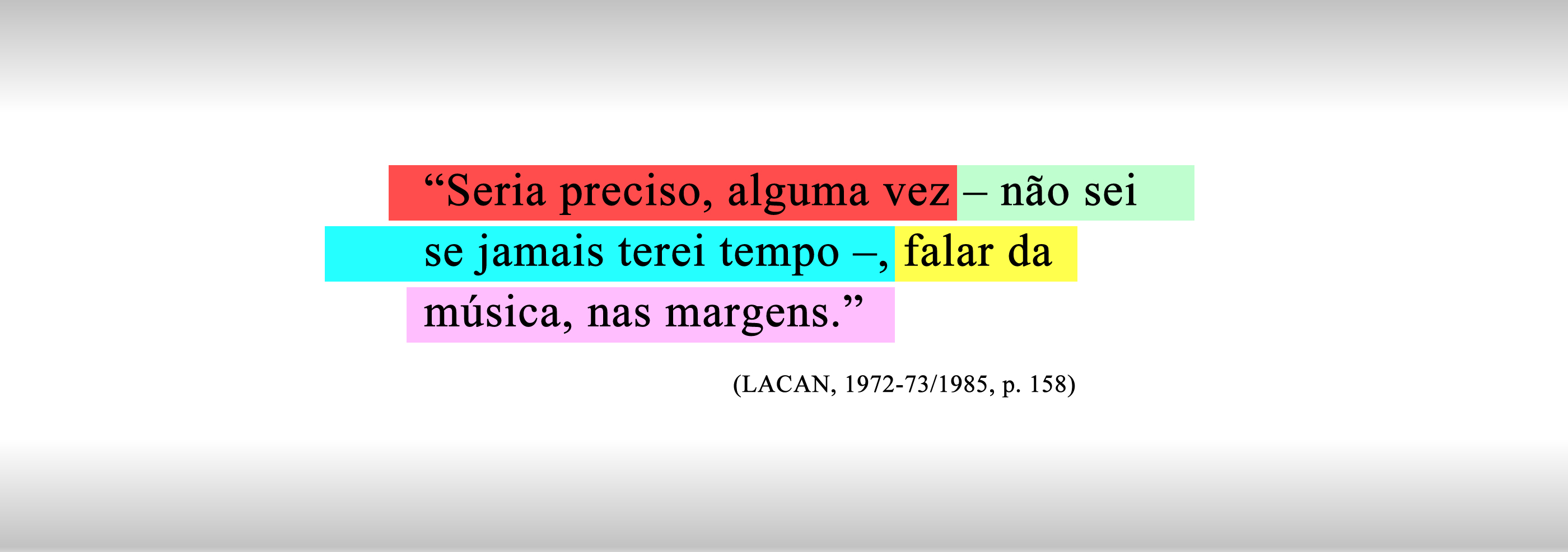
O monolinguismo do outro
DERRIDA, Jacques. O monolinguismo do outro ou a prótese de origem (1996).
Tradução de Fernanda Bernardo. Belo Horizonte: Chão da Feira, 2016.
Aline Magalhães Pinto

Uma nova edição de um texto é sempre uma abertura, uma entrada ou um impulso, uma oportunidade para conhecer um autor e um pensamento. As Edições Chão da Feira relançam como um convite essa mistura de dádiva e desafio, em um volume elegante e bem cuidado, uma nova versão de O monolinguismo do outro ou a prótese de origem.
Ensaio filosófico apresentado pela primeira vez em um colóquio em Louisiana, em 1992, publicado posteriormente pelas Éditions Galilée (1996), O monolinguismo do outro (MO) faz parte, portanto, do conjunto de textos publicados por Jacques Derrida a partir dos anos 1980 e 1990, período em que se afasta de algumas questões concernentes ao tema da estrutura e aos desdobramentos do estruturalismo que, nos anos 1970, ocupavam uma posição central em seus trabalhos. Seu pensamento se transforma, mas nunca abandona o problema da linguagem. O foco de sua investigação está enredado ao reconhecimento de que tudo que se subtrai ao ‘jogo’ da linguagem só pode ser retomado como linguagem.
Em MO, Derrida tematiza esse entrelaçamento da linguagem como língua, idioma, dialeto aos processos de construção identitária. Estabelecendo filosoficamente um vínculo entre vivência e experiência permeada por linguagem, o autor solicita certos aspectos de sua vida pessoal na argumentação desse ensaio.
Nascido em 1930, em El Biar, Argélia, em um ambiente judeu colonizado tanto pela França (a Argélia é um protetorado francês até a independência que se deu entre 1954 e 1962, depois de um longo conflito civil) quanto pela cultura norte-americana. Derrida é, portanto, um judeu-franco-magrebino. Durante a Segunda Guerra, ele chegou a perder a cidadania francesa e depois acabou se tornando um representante do pensamento filosófico desse país. Amado e odiado como tal, por ser francês em demasia ou por não sê-lo o bastante. Ocupando esse entrelugar, Derrida foi um dos pensadores críticos mais lúcidos do etnocentrismo e do caráter paradoxal das reivindicações universais da cultura ocidental.
Extrapolando aquilo que seria uma biografia, Derrida evoca a grafia, ou seja, marcas e espaços pelos quais pode perceber sua escrita como autobiográfica, radicalmente instaurada entre o íntimo e o público, entre o individual e o coletivo. Essa radicalidade se impõe performaticamente como gestos empostados no instante-limite entre experiência e letra. Pontuados por silêncios, esses traços biográficos se emaranham de maneira a expandir a experiência filosofante e entrelaçá-la com a literatura, com o desejo de literatura. Essa relação, da maneira como Derrida a aborda, nos mostra a questão da identidade como uma perturbação da identidade.
De fato, Derrida impõe um transtorno a qualquer tentativa de se responder de forma sumária à pergunta: “Quem eu sou?”. Pois, afinal, em que língua essa resposta se mostraria? A língua não está no domínio das coisas que podem ser possuídas. No limite, a língua sempre pertence a um outro e, por ser dele – e não nossa –, é infigurável. Reconhecer-se em uma identidade é uma exigência que implica, ao mesmo tempo, perfilhamento e estranhamento, aproximação e distância. Quanto mais se mergulha na composição de uma identidade, menos satisfeitos estamos com modelos de identificação “naturais” ou “próprios” ou “maternos”.
Porque nunca eu pude chamar ao francês, esta língua que te falo, “a minha língua materna”. Estas palavras não me vêm à língua, não me saem da boca. Dos outros, “a minha língua materna”. Eis a minha cultura, ela ensinou-me os desastres em direcção aos quais uma invocação encantatória da língua materna terá precipitado os homens. A minha cultura foi imediatamente uma cultura política. “A minha língua materna”, dizem eles, falam eles, quanto a mim, cito-os e interrogo-os. Pergunto-lhes, na sua língua, é certo, para que me entendam, porque isso é grave, se eles sabem bem o que dizem e de que é que falam. Sobretudo, quando celebram com tamanha ligeireza a “fraternidade”, é, no fundo, o mesmo problema, os irmãos, a língua materna, etc. É um pouco como se eu sonhasse com despertá-los para lhes dizer “ouçam, atenção, agora já basta, é preciso levantar-se e partir, de contrário acontecer-vos-ão desgraças ou, o que vem um pouco a dar no mesmo, não vos acontecerá absolutamente nada”. Para além da morte. A vossa língua materna, aquilo a que chamais assim, um dia, hão-de ver, nem sequer vos responderá mais. Vamos, a caminho, agora. Escutem... não acreditem tão depressa, creiam em mim, que sois um povo, parem de escutar sem protestar aqueles que vos dizem “escutem” [...][1]
A falta dessa língua-mãe, que Derrida − muito ironicamente anuncia aos demais tal como um profeta −, é uma condição humana, uma privação que não nos atinge apenas individualmente. A coletividade, inclusive em sua moderna forma de organização, aquela que consolidou o idioma como uma política, o estado nação, também é desprovida de qualquer berço linguístico natural e autêntico. Não há pátria-mãe.
Essa indigência é um estado compartilhado. O que não impede que, enquanto privação de uma “língua materna”, ela se apresente mais dolorosamente visível nos casos em que a circunstância sócio-histórica se configura como uma expropriação colonial. Em situações assimétricas, de alienação, subjulgo cultural e/ou sujeição política, essa carência é também uma penúria, uma miséria.
Nessa cena, o sotaque de um franco-argelino filósofo se transforma, então, numa espécie de índice de uma situação em que o modelo escolar, gramatical, literário entra em choque com a língua falada.
Entre eles há o Mediterrâneo. Mar, literal e metafórico. Espaço simbolicamente infinito. Mar, mãe. Estar aí, onde não devemos mais distinguir promessa e terror.
O monolinguismo do outro é um texto em que se procura pensar a língua que nos é ausente assim como ausente é tudo aquilo que desejamos.
Nota 27
Um dos aspectos mais interessantes da escrita de Derrida é a forma como ela assume o aspecto performático de seu discurso. Resgatando uma herança das vanguardas, na esteira de Mallarmé, para Derrida, o branco do papel não é um suporte amorfo: tem seu valor, vibra em função do preto da tinta impressa sobre ele. Do texto principal brotam textos que são como fecundos afluentes de um rio mais caudaloso.
Assim é a nota 27 de MO – para a qual eu gostaria de chamar atenção.
A nota se apresenta como suplementar à discussão a respeito dos dialetos das comunidades judaicas magrebinas. Ela levanta, bem ao estilo de Derrida, uma hipótese a respeito da relação dessa comunidade fortemente identitária e a língua materna. Essa hipótese deveria se chamar ‘os judeus do século XX e a língua do outro, dois lados do mediterrâneo’.
A tipologia abrange três perspectivas distintas sobre a relação dos judeus com sua língua.
A primeira posição é elaborada por Franz Rosenzweig. Para ele o “povo eterno” teve, desde sempre, um imigrado como pai. Ou seja, esse povo surge privado de ter, no mundo, uma casa onde adormecer e viver. À exceção da Terra Santa que, aliás, não pertence ao povo e sim a Deus. Da mesma maneira, o “povo eterno” não tem uma língua. Os judeus tomam emprestada a língua de quem os recebe como hóspedes. Assim, há judeus franceses, judeus alemães, judeus argentinos, etc. O povo eterno e escolhido jamais está em casa porque não fala sua língua. Encarando a contradição de uma “vida mundana” para um “povo eterno”, fala-se uma língua emprestada numa terra estrangeira. O domínio da língua santa encontra-se algures, inacessível ao cotidiano.
Essa postura, diz Derrida, aponta para uma angústia vulcânica provocada em um judeu pela modernidade e pela secularização da vida cotidiana. Do fundo do abismo dessa angústia, continua Derrida, Rosenzweig enxerga o aparecimento de uma voz espectral. Essa voz enuncia um nome impronunciável que esconde a potência da língua. Aviltada e espectral, essa voz traz consigo a força do sagrado e permite, ainda que mantendo-se inefável, três formas de atenuação desse vazio angustiante.
- O judeu pode amar verdadeiramente a língua do hospedeiro como se fosse sua, desde que não esteja em uma colônia, seja de povoamento pacífico, seja de invasão guerreira.
- O judeu pode preservar suas línguas “vivas”, desde que sejam realmente faladas, principalmente yiddish.
- O judeu pode praticar a língua da oração, quando é efetivamente capaz de compreender a liturgia.
Infelizmente, para o judeu magrebino típico, essas possibilidades não estão dadas, visto que:
- o francês é uma língua imposta pela colonização;
- a língua viva dessa região era o judeu-espanhol (remanescente da ocupação moura da Ibéria), que já não é mais praticado;
- salvo poucas exceções, ninguém conhece a liturgia judaica em língua sagrada no Magrebe.
O segundo caso da tipologia apresentada na nota 27 é a posição de Hanna Arendt, que estabeleceu com a língua alemã um elo inquebrável. Para Arendt, o alemão foi uma língua materna única, insuperável e filosoficamente privilegiada. Por isso, ela sofreu o período em que se abrigou nos EUA como um exílio não somente territorial mas sobretudo linguístico.
Para ela, segundo Derrida, a língua materna é para sempre e para sempre. O tempo dessa língua que não passa. Sempre, ali onde não há senão a língua, com a qual se tece uma fidelidade atemporal que supera até a mais alta traição. Mesmo ante a mais desenfreada e amarga loucura e crueldade, que não poderiam se perpetrar a não ser pelo uso de uma língua, nada pode substituí-la. A língua, independentemente de seu uso, carrega uma sacralidade de origem. Para Arendt, ainda que todos os alemães se tornassem diabólicos e frenéticos, nada poderiam contra a língua. Ela, a mãe, permanece, sempre.
Ao contrário do que pensa Arendt, Derrida argumenta que a língua-mãe pode vir a ser tão louca quanto seus filhos. Uma língua, mesmo materna, enlouquece, se seu uso é pervertido. A loucura é uma possibilidade. A origem do sentido e do sagrado também enlouquece: é o próprio sentido em si que sai de si – insano.
A terceira posição na tipologia é representada por Emmanuel Levinas, escritor e professor em francês, ao tempo que o lituano, o russo, o alemão e o hebreu permaneciam como línguas familiares.
Levinas afirma que a essência da linguagem são a amizade e a hospitalidade. Ao fazê-lo, não se refere às línguas maternas, originais e autênticas. Sua ética da linguagem tem como horizonte a língua francesa, a que adotou e elegeu como língua de acolhimento: familiaridade adquirida, conquistada, desejada.
Levinas rompe com a tentação da sacralidade da língua de origem, destituindo a língua materna de qualquer privilégio. Em sua vida, o francês será a instância formal de convívio comum. A língua francesa foi para Levinas a língua da filosofia, aquela capaz de acolher e expressar o sentido, venha de onde ele vier. Para ele, a língua não é o lugar do insubstituível e sim a própria instância de substituição.
Mas, para Derrida, Levinas substitui a sacralidade familiar da língua-mãe pela sacralidade da esfera pública republicana, baseada numa lei que apenas do ponto de vista formal atinge a todos da mesma forma.
Em resposta a essas três vias, que lhe parecem insuficientes, Derrida relança o convite de pensar a linguagem apontando para os casos de Franz Kafka, de Paul Celan e Hélène. Cixous, talvez buscando também incluir a si mesmo. A nota 27 termina enfatizando nesses autores a relação entre identidade e língua materna como um hibridismo dos caminhos anteriormente apresentados mas sem que a ligação híbrida seja menos perturbada ou perturbadora.
Ao final da nota, nenhuma conclusão. Apenas um lance aberto a ser explorado. Caminhando ao lado do texto, a nota o suplementa, questiona sua centralidade. E essa relação (lógica do suplemento) mostra aquilo que há de mais instigante no pensamento de Derrida: seu poder de exercer interrogação e provocação sobre o outro, poder de fascinar e instigar, sem a exigência de uma resposta, mas pela inquietação e pelo desejo de impossível.
Aline Magalhães Pinto é doutora em História Social da Cultura/ Puc-Rio, professora da área de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG.
E-mail: <O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.>.
____________________________________________________
[1] DERRIDA, [1996] 2016, p. 64. A editora optou por manter a grafia do português de Portugal, a fim de preservar a escolha da tradutora.










