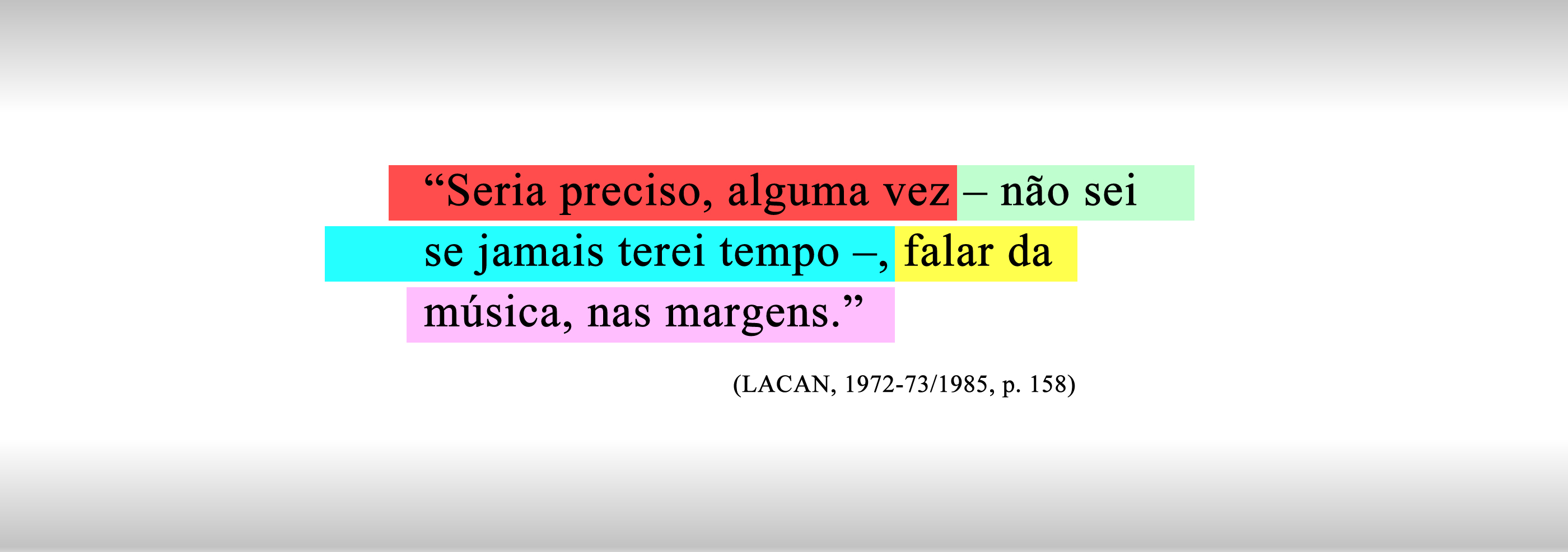
Entrevista com Eduardo Viveiros de Castro

Em março de 2016, Ana Lucia Lutterbach Holk e Sérgio de Castro foram gentilmente recebidos pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, em seu apartamento, na Praia de Botafogo. O encontro ocorreu às vésperas do último Congresso da Associação Mundial de Psicanálise (AMP), realizado em abril de 2016, no Rio de Janeiro, e cujo tema “O corpo falante” serviu de ponto de partida para um instigante diálogo sobre psicanálise e antropologia.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Gostaríamos de escutar você sobre o tema do nosso Congresso da AMP - “O corpo falante”. Em torno disso, devido ao declínio da função paterna, há uma mudança na relação com o simbólico, uma presença e valorização do real na clínica. O Congresso vai girar, principalmente, em torno dessa nova clínica.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Eu acompanho muito de longe. Já de saída vou dizendo que sou completamente ignorante. Sou objeto para vocês, não sou cossujeito.
ANA LUCIA LUTTERBACH: ‘Corpo falante’ é a tradução de um termo cunhado por Lacan: parlêtre. Então podemos iniciar a entrevista partindo da questão do corpo.
SÉRGIO DE CASTRO: Em seu trabalho sobre os ameríndios, o corpo é uma referência central. Daí, surgiu a ideia de uma interlocução possível, de um tensionamento entre o nosso campo, situado no ensino de Lacan, mas também no de Jacques-Alain Miller, que se distingue um pouco do Lacan estruturalista e a antropologia tal qual você a pratica hoje. Como o corpo e seu trabalho sobre os ameríndios é uma referência central, surgiu a ideia de uma interlocução, talvez possível, entre o nosso campo, situado no ensino de Lacan, mas também no de Miller, que se distingue um pouco do Lacan estruturalista e da antropologia tal como você a pratica hoje.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Na verdade, o Lacan estruturalista é o único que eu conheço.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Pois é, temos vontade de saber sobre a relação da antropologia com a psicanálise, que foi tão importante para o Lacan estruturalista a partir da presença de Lévi-Strauss.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É, sem dúvida foi.
SÉRGIO DE CASTRO: O pequeno texto de Lévi-Strauss, “A eficácia simbólica”, por exemplo, foi um texto importantíssimo para Lacan. Está nos primórdios da psicanálise lacaniana, pois traz um cotejamento do xamã com o psicanalista, considerado por alguns como uma ironia do Lévi-Strauss.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Minha impressão é que, no começo, Lévi-Strauss fazia uma aproximação não irônica, mas, pouco a pouco, ele foi se tornando cada vez mais... a palavra hostil não é boa... cada vez mais irônico – essa é a palavra. Na verdade, ele e Lacan se afastaram também por conta de uma amizade pessoal, devido ao suicídio do Sebag, que era o aluno principal, favorito, o filho querido de Lévi-Strauss.
SÉRGIO DE CASTRO: Ao final, há algumas críticas de Lévi-Strauss ao Freud, de Totem e tabu, em A oleira ciumenta, por exemplo.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É uma crítica meio bizarra, porque ele aponta que aquilo que Freud diz, os índios já haviam dito. Mas então: é ou não é uma crítica? Se é uma crítica, Freud está errado e os índios também. Nesse caso, Lévi-Strauss estaria dizendo alguma coisa imprópria para ele próprio. Se Freud estava certo, os índios só tinham lhe antecipado. O que só valida Freud. Lévi-Strauss tem essa ambiguidade, que também aparece com relação a vários outros pensadores. Uma ironia meio ambígua, ambivalente. Nos Tristes trópicos, Freud aparece como um dos três grandes mestres dele, ao lado de Marx e a geologia. Os três mostraram que o mundo e a verdade vêm em camadas. Então ele diz que a psicanálise, o marxismo e a geologia nos levam a entender que a realidade aparente é apenas um dos níveis de uma estrutura estratificada etc. A relação com Freud mudou, mas ele escreveu As estruturas elementares do parentesco contra Totem e tabu no sentido de ter sido o grande interlocutor do livro Totem e tabu. Então Freud sempre esteve presente para ele.
SÉRGIO DE CASTRO: A própria questão da interdição do incesto, tal como Lévi-Strauss a trabalha, é sua leitura do Freud do Totem e tabu.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Pois é! Ele vai refazer o Totem e tabu a partir de um material antropológico contemporâneo e não, como Freud fez, com a antropologia de sua época. Tanto quanto eu saiba, em todas as fases de namoro, digamos assim, entre Lévi-Strauss e Lacan, no começo, encontramos a noção de troca, de simbólico, a própria noção do simbólico em Lévi-Strauss parte dessa noção daquela época. Depois disso houve uma espécie de afastamento e Lévi-Strauss raras vezes se refere à psicanálise, exceto nessa linha um pouco ou abertamente irônica, quando compara o mito de Édipo a uma opereta, ao vaudeville francês e ao mito indígena, uma vez que as estruturas são todas semelhantes.
SÉRGIO DE CASTRO: Há um ponto em que ele critica Freud, com razão, que é algo que Lacan também vai fazer, ainda que de forma um pouco diferente. Se não me engano, Lévi-Strauss passa rapidamente por isso em A oleira ciumenta, ou em outro lugar, ao comparar a infância a uma sociedade primitiva com uma ideia de progresso, de um desenvolvimento quase natural em direção à civilização a partir da suposição de que haveria um “desenvolvimento” natural da libido até uma suposta “maturidade”. Isso irrita muito Lévi-Strauss, mas também a Lacan.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Isso está em um capítulo chamado “Visão arcaica”, de As estruturas elementares do parentesco. E justamente não diz respeito só à criança, mas também ao louco e ao primitivo. É um clichê clássico da época de Freud, não apenas de Freud, mas de todo mundo, inclusive dos antropólogos. O pensamento infantil, o pensamento psicótico e o pensamento selvagem possuiriam uma série de traços comuns e específicos. Em última análise, especialmente, por confundir palavra e coisa.
SÉRGIO DE CASTRO: É uma ideia de “evolução” altamente perniciosa, não é?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Lévi-Strauss fala de Freud... Bom, se o primitivo pensa como criança, o que dizer das crianças primitivas, já que... e o que falar dos loucos primitivos?
ANA LUCIA LUTTERBACH: As crianças loucas e primitivas...
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É um capítulo todo sobre alguns aspectos semelhantes da vida psíquica dos selvagens e das crianças ou dos loucos, eu não me lembro.
SÉRGIO DE CASTRO: Das crianças e dos neuróticos, Totem e tabu inicia-se assim.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: No entanto, ninguém mais acha necessário contestar isso.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E hoje? A antropologia tem alguma relação com a psicanálise? Se interessa por ela, você especialmente?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Não... eu acho que a antropologia se afastou bastante da psicanálise, principalmente no sentido freudiano, lacaniano. A antropologia sofreu um desvio, há uns 30, 40 anos, em uma direção muito naturalista, na direção das ciências cognitivas, das neurociências, e com isso se afastou muito da psicanálise.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Isso inclusive na França?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É, sobretudo na França, houve uma espécie de hipnotização da antropologia, de todas as Ciências Humanas, na verdade, com essa ideia de que as ciências cognitivas realmente dariam acesso à explicação do comportamento humano. No meu entender, isso foi um tiro na água, não funcionou. Durante quase 20 anos, o cognitivismo era quase um mantra, válido para tudo. A antropologia passou a se referir às ciências cognitivas, a psicologia cognitiva especificamente, namorando, flertando com a sociobiologia, com as teorias da cognição animal, da cognição humana, mas isso não deu em grandes coisas, embora muita gente continue a fazer isso. Em relação à psicanálise, você tem indivíduos isolados que continuaram a levar o diálogo com a psicanálise a sério, três ou quatro. Mas com muito pouca repercussão externa.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Essa interlocução seria com Lacan?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Seria com Lacan e mesmo com Freud. Mas, na verdade, eu acho que houve uma espécie de divórcio. Cada um seguiria seu caminho e a própria psicanálise, tanto quanto eu saiba, também parou de tomar muito material, de dialogar muito com materiais antropológicos, etnográficos, que foram sendo produzidos desde a década de 1950, quando Lacan e Lévi-Strauss estavam em contato. No Brasil, que eu saiba, não conheço nenhum antropólogo que tenha influência da psicanálise como antropólogo. Sei de alguns psicanalistas que têm tentado dialogar com a antropologia. Um deles é o Christian Dunker, em São Paulo, que escreveu alguma coisa com o meu trabalho, que eu ainda não li. Mas não tem havido diálogo nenhum, para ser bem objetivo. E eu mesmo, faz muitos anos que não leio psicanálise. Freud eu tenho lido, mas Lacan eu parei onde, mais ou menos, Lévi-Strauss parou.
ANA LUCIA LUTTERBACH: O que você tem lido de Freud?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Eu reli “Luto e melancolia” recentemente e Totem e tabu. Este eu leio praticamente todo ano, porque eu tenho que dar curso sobre magia e religião. Então volta e meia eu volto ao Totem e tabu. “Luto e melancolia” também por trabalhar com a questão da morte nas sociedades indígenas. Foram os dois textos mais recentes, além do texto da pulsão de morte, o “Além do princípio do prazer”. Foram textos que dei no curso.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E o conceito de inconsciente não te faz falta?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Não. Na verdade, o conceito de inconsciente meio que sumiu, desapareceu da antropologia, até porque o conceito de inconsciente de Lévi-Strauss tem um problema. Lévi-Strauss tem uma ojeriza a tudo que diga respeito à vida que ele chama afetiva. Então, o conceito de inconsciente de Lévi-Strauss é completamente intelectual no sentido intelectualista. Ele diz que as pulsões não explicam nada. Há uma frase famosa dele: “As pulsões não explicam nada, elas são ou o resultado da potência do corpo ou da impotência do espírito”. Ele recorre a isso porque criticava as teorias da magia clássica que atribuíam o pensamento mágico a medos, temores primitivos, incertezas ou desejos. Em suma, que usavam uma linguagem que chamaremos do afeto, do sentimento, do medo. E ele rejeitava isso muito veementemente e dizia: tudo isso são formas de pensar, de classificar o mundo, de organizar o pensamento que não tem nenhuma relação com os afetos. O inconsciente para ele é puramente formal. Ele sempre diz isso.
SÉRGIO DE CASTRO: É muito o inconsciente estruturado como uma linguagem.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Formal. Não se sabe o que fazer, enfim, não interessa a dimensão, até podemos dizer, corporal do inconsciente.
SÉRGIO DE CASTRO: Esse é um debate nosso.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Acho que podemos começar por aí. Fale um pouco sobre essa ideia.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Talvez o último antropólogo a ter usado uma noção de inconsciente, mais como adjetivo do que como substantivo, tenha sido o próprio Lévi-Strauss a respeito dos mecanismos inconscientes da vida social. Mas esses inconscientes não são mecanismos do inconsciente. São os mecanismos inconscientes da vida social, no sentido de serem mecanismos espontâneos que emergem da própria dinâmica da vida social. A própria teoria dele sobre a troca, ele a interpreta assim – Lacan inclusive vai tomá-la e, digamos assim, psicanalisá-la, no sentido de localizar isso como uma estrutura do inconsciente. Mas Lévi-Strauss, acho, ele não assinaria em baixo. Ele manteria o conceito no plano do adjetivo, digamos assim, muito mais do que do substantivo. Não que ele não admita o inconsciente, mas esse inconsciente, como eu disse, é sempre um inconsciente de ordem pré-representativa, mais no sentido estritamente lógico. Não tem nenhuma dimensão precisamente pulsional. É como se fosse somente um substrato, como se fosse uma metáfora famosa do Bateson, um antropólogo que diz: se nós fôssemos capazes de ver através da tela da televisão todo o mecanismo que tem dentro, nós não poderíamos ver o que está se passando na tela. Então, para mim o Bateson está falando do inconsciente como exatamente isso, aquilo que está atrás da tela, que permite que você veja o que você vê, mas que se você visse, não permitiria que você visse o que vê. Mas notem que é uma maneira estrita de pensar a coisa, que não diz justamente nada a respeito do corpo ou da condição existencial, corporal, humana etc. São as condições de possibilidade, quase kantianas, do pensamento consciente. Essas condições são inconscientes. São condições inconscientes assim como a gramática da língua. Na verdade, essa é a metáfora: o inconsciente de Lévi-Strauss é como a gramática para nós; a gramática do português; ninguém aqui – se a gente começar a pensar nas regras de gramática – fala. Então, para Lévi-Strauss, o inconsciente está situado no mesmo plano que a sintaxe de uma língua. Claro que quando Lacan diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, isso vai dar toda uma confusão no sentido de que, bom, mas então o que é o quê? Se ele está estruturado como linguagem, então aquilo que Saussure está falando é a mesma coisa que o que diz Lacan, ou não? Certamente não porque o que o inconsciente está estruturando é muito diferente dos sons da língua. Essa matéria que é estruturada é outra.
Mas sobre essa matéria Lévi-Strauss não chegou a falar. E eu diria que essa matéria é, essencialmente, a condição corporal. Mas isso é uma coisa minha, não é dos índios. O meu interesse na questão do corpo na antropologia é estritamente etnográfico no sentido de que o meu problema é saber qual é a teoria indígena, quais são as teorias implícitas e, muitas vezes, explícitas: ‘qual é a antropologia indígena?’. Isso no sentido de que Freud tem uma antropologia, ou seja, certa concepção do homem. A psicanálise tem uma antropologia se pensarmos na concepção do que é ser humano e do que não é ser humano; por onde passa o corte, por onde não passa. A minha questão, como antropólogo, sempre foi dizer: muito bem, se eu quiser estudar antropologia ocidental eu não vou, na verdade, ler antropologia, eu vou ler Lacan, Freud, algum filósofo, Descartes, Hobbes, Locke, para entender como é que o mundo ocidental concebe a ideia de antropos e a própria ideia de logos também. Exprimo meu interesse da seguinte maneira: quando eu estou com os índios, eu gosto de saber o que eles entendem por antropologia. Não estou interessado em fazer uma antropologia deles, eu quero saber qual é a antropologia deles. Um outro sentido do possessivo, do genitivo. Eu quero saber o que eles entendem por humano, o que eles entendem por não-humano e o que eles entendem por logos, por saber, por conhecimento. O que eles entendem pelo que é o conhecer e o que é o humano. Nós pensamos que sabemos. O antropólogo, supostamente, chega lá e ele já sabe o que é o homem e vai estudar aquela variedade particular de homem que é o índio X ou o índio Y. Mas ele já está em posse do saber soberano. Ele vai apenas ver como aquele índio, digamos, exprime seu conceito de universal, qual é a posse dele. Nesse caso, o índio será uma manifestação específica desse conceito. Ele poderá enriquecer o conceito, ele poderá eventualmente dar uma determinação adicional, por exemplo, demonstrar como o índio pensa como a criança, pensa como o louco, ou como o pensamento indígena esclarece o pensamento infantil e essas coisas todas. Mas você já sabe o que é o pensamento.
SÉRGIO DE CASTRO: Como se diz em psicanálise, sem que o antropólogo saia de uma posição de mestria.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exatamente! Então, na minha questão, eu vou ao contrário, vou dizer que eu não sei bem o que é. Tenho que partir de algum lugar, então construo um pouco do lugar onde tem seres que parecem comigo e não o rosto de peixes ou onças, mas a escolha para aí. Não pressuponho mais nada a não ser que aquelas pessoas correspondem a homens tais como nós entendemos, mas não pressuponho o que pensam que seja humano ou não humano em uma relação que seja meramente sinônima das nossas ideias. Então, o meu trabalho tem sido o de tentar reconstituir uma antropologia indígena virtual.
ANA LUCIA LUTTERBACH: O que eles te ensinaram?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Precisamente, uma das coisas foi o lugar bastante diferente que a corporalidade tem em seu pensamento. Em nossa cultura, se simplesmente pudéssemos dizer assim, quem descobriu que o corpo era fundamental para a antropologia humana, a antropologia no sentido genérico, foi Freud; antes dele, o corpo, tudo o que vinha do corpo ou que remetia a ele, era visto como menor do ponto de vista filosófico. É a ideia de que o corpo era insignificante no sentido literal da palavra. Ele não significava. O que importava era o espírito.
SÉRGIO DE CASTRO: É a Freud, então, que você recorre aqui.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Em certo sentido, digo que quem começou a descobrir que comer, defecar – essas coisas todas, eram antropologicamente densas, foi Freud. Antes dele, isso tudo era considerado a natureza, o lado animal do homem que era melhor esquecer, controlar, domesticar ou dominar e, de preferência, não introduzir nas grandes questões filosóficas. A questão filosófica fundamental é o penso ou não penso; penso, logo existo. A questão não é saber se eu tenho ou não tenho um corpo. É eu penso, logo existo. Então uma das coisas que me chamou a atenção foi como a corporalidade do mundo indígena tinha, ao contrário, uma densidade, uma importância. Basicamente, eu cheguei a uma sociedade que não era cristã, que não tinha aqueles “dois mil anos” de ideia a respeito do homem como um animal com alguma coisa a mais. Ideia que, no fundo, a nossa antropologia, e até certo ponto a própria psicanálise, compartilha. Nós somos animais, mas temos uma espécie de camada adicional, o simbólico, a linguagem, a lei ou a cultura. Para mim, tudo isso aí são nomes sucessivos da velha noção de alma. Ou seja, daquilo que torna os humanos especiais em relação ao resto dos viventes.
SÉRGIO DE CASTRO: E, eventualmente, inclusive, em relação aos índios.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exatamente, nós pensamos certo e eles são humanos incoativos, humanos frustrados, crianças no sentido de infantis, ainda não completamente desenvolvidos. Então essa ideia de que os seres humanos são animais como os outros, mas, ao mesmo tempo, possuem certo complemento de alma, um excedente, como se fala em francês, que de alguma maneira quase faz com que levitemos, ligeiramente, em relação ao chão; enquanto os outros animais estão com as quatro patas no chão. Até acho que Aristóteles interpreta a palavra antropos como significando o que tem a cabeça ereta, o que olha para cima. Então o homem é aquele que olha para cima. Enquanto os animais, os outros, estão olhando para baixo.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E lá em cima tem outro homem?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Então é essa ideia do humano como alguma coisa que é – inevitavelmente, no sentido pessimista do termo – um animal, mas que tem ao mesmo tempo algo que o redime. Esse suplemento pode ser uma falta, pode ser um excesso – uma falta que só o homem tem. É a ideia do que é próprio do homem. A antropologia ocidental sempre esteve marcada por essa questão, a antropologia no sentido lato do termo, filosófica, e a antropologia científica, no sentido acadêmico também. A questão é: o que é próprio do homem, característico do homem, que distingue os homens dos outros animais? Percebi que para os índios a questão sobre o que distingue os humanos dos outros animais não era uma questão importante, porque o homem não estava no centro. E não porque ele fosse um animal como outro qualquer, que seria, digamos, a posição de um cientista positivista moderno que no limite desejaria poder dizer: o homem é exatamente como qualquer outro animal no sentido de que ele é redutível a um sistema material de interações materiais, de neurônios, redes neurais e descargas elétricas. Em suma, o dia em que eu conseguir estudar o comportamento humano da mesma maneira que eu consigo explicar o comportamento de um cérebro de um animal muito primitivo, bem simples – porque o chimpanzé já é mais complicado –, no dia em que eu conseguir explicar o cérebro humano – porque é sempre o cérebro – de um jeito estritamente mecânico, no sentido físico, aí eu terei, finalmente, feito ciência. Aí eu mostrarei que o homem é realmente um ente material, um sistema material vivente como qualquer outro. Então toda vez que você, digamos, procura contornar a questão do que é próprio do homem, inevitavelmente, no Ocidente, essa é a perspectiva da ciência, fundamentalmente positivista, que vai dizer: o homem não tem nada de próprio. E mesmo na medida em que falemos de uma dimensão espiritual, na medida em que usemos a linguagem da intenção, do desejo, da referência, do afeto, de todas essas coisas, na verdade são palavras que nós usamos porque estamos descrevendo temas muito complicados do ponto de vista material e não conseguimos ainda fazer uma fotografia, digamos, do cérebro de uma pessoa, digamos, em estado de melancolia. O dia em que nós fizermos uma tomografia realmente perfeita, nós vamos conseguir dizer: aí é uma coisa que só a falta do neurotransmissor x etc., enfim... que é o que diz a psiquiatria. Diria: não, isso aí é só uma questão de excesso de sódio, de cálcio, dos íons de cálcio, a serotonina, ou não sei o que tal.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Vinicius de Moraes dizia que para ele faltavam duas doses de uísque. A substância que faltava para ele era o uísque.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Ou uma dose dessa cachaça aí que o Sérgio trouxe! Eu diria então que há duas posições básicas da antropologia ocidental. Sempre uso a palavra antropologia no sentido de teoria do homem, teoria nativa do homem: uma teoria indígena do homem; a teoria dos ocidentais de dois mil anos de cristianismo; da filosofia grega; de Dostoievski e assim por diante. Eu diria que há duas posições básicas, uma de que o homem é o animal com alguma coisa a mais e esse ‘a mais’ pode ser um menos, pode ser uma falta, mas é alguma coisa que o distingue, portanto é um suplemento. Mesmo que esse suplemento seja uma felix culpa, uma deficiência, é algo que o torna à parte. O homem é um animal à parte, um animal especial. Ou você tem essa posição, o que, para mim, é a posição dominante e que teve vários avatares ao longo da história do pensamento ocidental: o primeiro foi a alma imortal, a criação especial; depois virou a cultura, o espírito no sentido genérico da palavra, a educação, a linguagem, ou o desejo, a falta, o simbólico enfim. Isso não é uma crítica, é minha visão de antropólogo estudando essa tribo que somos nós. Então ou se tem essa posição de que o homem é um animal plus, um animal com alguma coisa que os outros não têm, ou a tentativa, a outra posição dizendo: não, o homem é um animal como os outros. Em última análise, os animais são máquinas, são sistemas materiais como qualquer sistema material, só que especialmente complicados, mas em última análise redutíveis às leis da física, da termodinâmica e, enfim, da física quântica, ou seja, o que for. A posição indígena me pareceu capaz, exatamente, de oferecer uma terceira via, digamos, uma outra maneira de conceber que o problema deles não é dizer nem que os homens são diferentes de todos os outros animais, nem que eles são como todos os outros animais. A posição deles é dizer: todos os animais são como nós. Que é uma virada de mesa, ou seja, nós não somos especiais, o homem não é especial. O homem não é especial porque ele é menos do que nós pensamos que ele seja, como pensaria o cientista positivista moderno, mas porque os animais são mais do que nós achamos que eles são. E não só os animais, isto é o mundo concebido como um todo. É o que poderíamos chamar de antropomorfismo, frequentemente confundido como antropocentrismo, e sempre atribuído a uma espécie de narcisismo primitivo, primário, pelo qual o homem projeta sua própria percepção, sua autopercepção sobre o mundo: criança faz isso, o primitivo faz isso, eu - mundo animado, uma concepção Disney, digamos, do pensamento indígena, por exemplo. Mas, na verdade, eu contrasto de uma maneira muito marcada a distinção entre antropomorfismo e antropocentrismo. O antropocentrismo é a ideia de o homem estar no centro, portanto, tem pensadores que são fundamentalmente antropocêntricos que não têm nada de antropomórficos. Kant, por exemplo, que pensa que o universo gira em torno do entendimento humano legislador, com suas categorias de realidade etc. A nossa concepção clássica da cadeia do ser em que o homem é o último elo mais avançado da evolução das espécies, essa concepção errônea da biologia de que o homem é o animal mais evoluído. Não faz sentido nenhum para o biólogo dizer isso. São concepções essencialmente antropocêntricas: o homem é o ser especial, ele está no centro. O antropomorfismo, tal como eu dei um twist na noção, é o contrário, ele diz que tudo é humano. Se tudo é humano, nós não somos especiais.
SÉRGIO DE CASTRO: Uma outra perspectiva.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Se tudo é humano significa que o ser humano não tem nada de especial. Aí você tem uma série de outros problemas que decorrem daí. Por exemplo: se tudo é humano, por que afinal de contas eu vejo coisas diferentes? Eu vejo uma onça, eu vejo uma canoa, eu não vejo homens em toda parte. E mais: se tudo é humano, onde eu fico? O que torna eu, fulano de tal membro da tribo tal, diferente daquele fulano tal, da tribo outra, ou diferente da onça, diferente da canoa? Então essa é a questão, digamos assim. O problema que eu formulei, de uma maneira um pouco drástica, de que, para nós, o fundo comum da humanidade e da animalidade é a animalidade. Os humanos são animais que saíram de uma animalidade genérica, geral. Nós éramos animais e em algum momento qualquer, por uma mutação qualquer, seja ela biológica ou miraculosa, houve alguma mutação em que os humanos, de alguma maneira, saíram da fila.
SÉRGIO DE CASTRO: Isso numa leitura darwinista, evolucionista.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exato. Uma leitura em que houve uma mutação neurológica, talvez a postura ereta permitisse que o cérebro aumentasse, ou o uso das mãos, o polegar oponível permitiu não sei o quê. Há várias leituras, uma quantidade de teorias sobre o processo da hominização, como chamam. Esse processo de hominização, no sentido filogenético, biológico, é um processo que parte de uma condição originária de que o homem era outra coisa antes e essa outra coisa era no nível animal. E ele progrediu; outros podem até achar que ele decaiu, mas pouco importa. O fato é que ele saiu da fila, digamos. O fundo comum dos humanos e do resto dos animais é a animalidade como condição genérica e de uma condição que a gente poderia chamar, talvez, de pura corporalidade. Porque essa saída da fila foi algo que tem a ver com a localização do espírito. E quando se quer falar de espírito fala-se em cérebro, um avatar moderno do espírito. O cérebro é aquele lugar onde no corpo está nossa glândula pineal etc. e tal. Eu digo, nos meus textos, que para pensar isso em termos indígenas é ao contrário: o fundo comum da humanidade e da animalidade é a humanidade. Em toda a antropologia indígena, na mitologia indígena, procura-se explicar como os animais se diferenciaram por várias vicissitudes, várias aventuras e desventuras mitológicas etc., como os animais deixavam de ser humanos e não como os humanos deixaram de ser animais, como para nós esse deixar de ser nunca é um deixar de ser completamente. Então, para nós, nós continuamos animais no fundo. Nós estamos nus. A ideia de que a cultura é como se fosse uma roupa. O simbólico, a linguagem é algo que reveste uma natureza fundamentalmente animal, e isso aparece frequentemente na linguagem comum: o homem, no fundo, é uma besta, uma fera predadora e violenta. Se não fosse a cultura, se não fosse algo que segurasse isso aí. No próprio Freud temos isso. Então, se não tivesse a cultura, as pessoas se comeriam vivas. Ou seja, nós permanecemos no fundo animais, mas temos alguma coisa que nos recobre, nos protege, nos oprime ou nos reprime. Os índios veem a coisa exatamente inversa, eles contam como os animais deixaram de ser humanos: no começo dos tempos todos os seres eram humanoides, digamos. Para nós, no começo dos tempos todos os seres eram animaloides, mas esse deixar de ser humano nunca é completo, permanece um fundo humano por baixo daquela aparência.
ANA LUCIA LUTTERBACH: É um fundo ou é um traço?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Eu costumo dizer, brincando: assim como para nós o inconsciente é o lugar animal do homem – digamos assim, entre as muitas maneiras de conceber o inconsciente –, o inconsciente é uma parte animal do homem. Não é verdade?
ANA LUCIA LUTTERBACH: Não.
SÉRGIO DE CASTRO: Não. Essa aí é uma velha acepção. Um daqueles “entendimentos” da psicanálise que o próprio Lévi-Strauss critica.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exatamente! Não estou falando da psicanálise. Estou falando da nossa antropologia, vou chamá-la vulgata antropológica. O inconsciente é o lugar onde os instintos primais etc. estão ali segurados pelo superego, pela cultura, pelo que for. Eu costumo dizer que se fosse para pensar assim, no caso dos índios, o inconsciente dos animais é humano. O lado humano dos animais é o inconsciente animal. O que corresponde para nós, na nossa antropologia popular, a que o nosso inconsciente é animal e a consciência é humana.
ANA LUCIA LUTTERBACH: A animalidade deles protege-os da humanidade?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Não. Isso é complicado. A animalidade deles esconde a humanidade deles de nós. Na cultura indígena é muito comum que os animais, qualquer espécie, tomada como ponto de referência, seja ela qual for, se autoperceba como humana. Em outras palavras, de maneira jocosa, quando uma onça se olha no espelho, ela vê um ser humano, como nós – antropomórfico. Todos esses seres possuem uma espécie de corpo genérico, que é o corpo aperceptivo, vamos chamar assim, o corpo que você percebe quando você se olha no espelho ou quando você vê um congênere – alguém da mesma espécie que você –, um corpo de tipo humano, forma, melhor dizendo, uma forma, não é um corpo. As onças, ao tirarem aquela roupa animal, que é mais que uma roupa porque é o equipamento; a roupa da onça é o que dá à onça as suas características de onça que a fazem ser mais forte que você: pular, andar, correr, ter aqueles dentes. Eles não estão pensando a roupa da onça como uma fantasia de carnaval; estão pensando muito mais no que pensaríamos como um traje espacial ou um equipamento de mergulho. Isto é, alguma coisa que permite a você fazer coisas que você não poderia fazer se você não estivesse usando aquela instrumentação. O objetivo de alguém que vai vestir um escafandro não é parecer com um peixe; é respirar dentro do universo dos peixes. Então é um pouco assim: a roupa, que é o corpo da onça, esse corpo não é uma aparência que esconde um espírito que é a essência, mas esse corpo é o que dá à onça a sua oncidade, e o que, justamente, tem forma humana é o espírito. Eles dizem: não, a alma da onça é humana. E frequentemente eles exprimem isso de uma maneira bem-moralista. Tem uma passagem em um livro de um antropólogo em que os índios do alto do rio Negro na Amazônia falam: a ferocidade da onça é de origem humana. Isto é, as onças não vão lutar com os homens; ao contrário do que a gente imagina, as onças fogem. Mas tem umas que atacam. Essas que atacam, na verdade, são aquelas nas quais o lado humano passou à frente, digamos assim. O lado oculto humano passou à frente. Como se eles dissessem: para nós, o único bicho perigoso é o homem, portanto bichos que são perigosos são bichos que estão com o lado humano precisamente em primeiro plano, assim como para nós, homens perigosos estão com o lado animal em primeiro plano. Na nossa antropologia popular: o cara se comporta como uma fera. E os índios, quando veem uma onça que se comporta como uma fera, eles diriam que ela se comporta como homem. Como um inimigo, um guerreiro. Então tinha essa espécie de alternância entre a forma humana, a anatomia humana, e também aquilo que nós costumamos atribuir ao espírito humano, vamos chamar assim – linguagem, comunicação, a própria capacidade de pensar, de antecipar, de se vingar, de lembrar, memória, todos os atributos da atividade mental humana. Para falar como Descartes, os índios consideram a consciência a coisa mais bem-compartilhada do mundo. Para os índios, essa capacidade, que podemos chamar de intencionalidade, a capacidade de significar, de dar sentido, é, digamos assim, virtualmente universal. Virtualmente porque se você perguntar para eles se as formigas são gente ou eram gente, eles vão dizer: não, as formigas não. Às vezes você fica assim meio surpreso, eles começam falando assim: antigamente, todos os bichos eram gente. Você fala: todos os bichos? Eles: Todos! Aí você pergunta: E o jabuti? E eles: O jabuti não. Aí você percebe que não é uma questão de taxonomia, de classificação. Mas, se no dia seguinte, o xamã tem um sonho, tem uma pessoa doente, vai lá uma pessoa e por alguma razão que só ele sabe e ele diz: você está doente porque foi o jabuti que você comeu ontem e o espírito dele está ali se vingando. Aí, de repente, a partir daquele momento, naquela cultura, naquela sociedade, naquela aldeia, os jabutis vão passar a ser considerados também como possuindo uma agência de tipo humano, uma intencionalidade de tipo humano que antes ninguém tinha pensado nisso. Tem outros animais que, ao contrário, são quase que universalmente considerados como possuindo uma agencialidade humana oculta que, em geral, são os grandes predadores como as onças, as águias, as sucuris. São os animais que competem com o homem ou que atacam o homem, mas muitas vezes são animais que nós consideraríamos completamente insignificantes, mas que, para eles, são o contrário, possuem grandes capacidades humanoides. Alguns nos surpreendem, por exemplo, as abelhas e as formigas, animais que têm justamente uma capacidade de ação coordenada.
SÉRGIO DE CASTRO: E as presas humanas também, não?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: E as presas humanas. Então toda essa visão indígena está muito ligada ao que a gente poderia chamar de um certo tropismo que tem a ver com a cadeia alimentar, a cadeia predatória. Os humanos comem para viver. Eles sabem o que eles têm que matar, e isso é uma coisa que eles sabem muito mais do que nós, porque eles não têm ninguém para matar o boi pra eles, nem supermercado para comprar a carne já limpa. Eles têm que fazer o serviço sujo, eles não têm ninguém que faça o serviço sujo para eles.
Eles sabem que para todos os animais é impossível viver sem matar alguma coisa. E por isso para eles todos esses atos de caça – e até planta você tem que matar, porque você tem que derrubar floresta, botar fogo para poder fazer a roça –, então não existe vida sem destruição de outra vida. Isso para eles é uma coisa levada extremamente a sério porque é um mundo cheio de intenções. É como se a gente vivesse num lugar onde as paredes tivessem ouvidos, digamos assim. As paredes, no caso, são as árvores, as plantas, os bichos, tudo está prestando atenção ao que eles estão fazendo.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Quem é esse Outro deles que fica prestando atenção?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Eles dizem que todos os seres estão de olho na gente.
ANA LUCIA LUTTERBACH: É o olho.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É o olho porque, inclusive, essa questão do ver é fundamental, que é o ver como. Eles dizem: quando você encontra uma onça no mato que matou um veado e está ali, lambendo e chupando o sangue do veado, comendo o veado, você está vendo assim, mas ela, na verdade, está tomando cerveja de milho, uma cachaça, ou seja lá qual for a bebida que os índios tomam. Então você fica achando que é só uma analogia, como se fosse: o sangue está para a onça assim como a cerveja está para nós. É verdade, mas é mais do que isso: a onça de fato está tomando cerveja, é como se ela estivesse alucinando. Para nós, ela está alucinando. Mas, se eu fosse uma onça, quem estaria alucinando seríamos nós.
SÉRGIO DE CASTRO: Daí o perspectivismo, né?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exatamente. Então as onças se veem como gente fazendo as coisas que gente faz, gente conforme o que o índio considera digno de gente. Então as onças vivem num mundo igual ao dos índios, com aldeias, tomam cerveja de milho, sangue de milho. Elas não bebem sangue porque sangue ninguém bebe. Onça bebe. Você vê assim, mas a onça não está vendo assim.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Mas e o corpo?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Então, é como se o corpo humano nu, que não é o corpo indígena – o índio nunca está nu –, eles estão sempre com o corpo todo trabalhado com adornos, perfurações, tatuagens, escarificações. Por isso, a ênfase imensa que os índios dão à modificação corporal, às transformações, às interferências sobre o corpo.
SÉRGIO DE CASTRO: Quem os vê nus somos nós.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exatamente. Por exemplo, os índios em geral nos acham horrivelmente feios, especialmente os homens, os “machos”, porque nós somos peludos como macacos. Primeiro porque eles têm menos pelos e segundo porque eles se depilam cuidadosamente para se vestir. Eles se barbeiam cuidadosamente para tirar qualquer aparência de bicho que, por sua vez, não se vê com pelo porque os macacos se veem como homens. Mas então o corpo humano aparece como uma espécie de corpo genérico, corpo universal. É a forma pela qual toda espécie se autoapreende. Isso cria um problema para os humanos, evidentemente, quer dizer para os índios, porque se esse corpo é universal, ou seja, se esse é o modo pelo qual toda espécie se apreende, inclusive nós, essa é a grande questão, é o grande problema indígena: se tudo é humano, então o que sou eu? Se todos os seres se veem como eu me vejo, mas não me veem como eu me vejo – porque a onça olha para um homem e vê um porco do mato, ou um macaco, um animal que o homem come, por isso ela nos ataca. A onça ataca a gente não porque ela tenha um especial ódio à humanidade ou um desejo especial pela humanidade, mas porque ela vê a gente como nós vemos os porcos. Os porcos não se veem como nós os vemos, eles se veem como gente. Eles veem a gente ou como onças ou como espíritos canibais que os atacam para comer. Então isso coloca um problema diferente do nosso. O nosso problema, digamos assim, metafísico, decorrente dessa excepcionalidade humana, esse estado de exceção ontológica que é a condição humana para nós, a nossa vulgata antropológica metafísica recorrente é um problema de solipsismo: estamos sós no universo; os animais não falam conosco; não tem mais ninguém; ou será que tem alguém em outro planeta? A ideia de que o homem está sozinho como uma espécie solitária e que, no limite, o indivíduo está sozinho é uma questão cartesiana: como posso provar que o outro é gente? Eu só posso provar que eu penso, logo eu existo. Quanto ao outro, aí ele vai ter que recorrer a deus para deduzir. É o famoso problema das outras mentes que os filósofos adoram. Questões sobre o gênero, que até hoje se discute na filosofia analítica pelos que adoram esse tipo de pequenos enigmas escolásticos – como você sabe que as outras pessoas à volta de você não são zumbis, máquinas, que só parecem gente? Não é tão simples provar, partindo dos pressupostos metafísicos da tradição ocidental. São problemas de solipsismo, da ideia de que estamos sozinhos – seja a espécie, seja o indivíduo sozinho. Nosso problema é falta de comunicação. Em certo sentido, precisamos aprender a nos comunicar mais com o outro, com o estrangeiro, com o louco, até com o animal. Precisamos sair de nossa prisão solipsista. Podemos dizer algo um pouco o contrário sobre os índios: tudo fala. É como se estivessem em um universo inteiramente povoado.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Quase delirante?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É... de vozes... Então o problema é como se cria um espaço. Todo o trabalho simbólico indígena consiste em criar um espaço propriamente humano – não é bem a palavra.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Próprio!
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Próprio. Exato. Desse universo em que o problema é: como eu defino o que me é próprio?
SÉRGIO DE CASTRO: Todo mundo fala, tudo fala, mas não se entende.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Não se entende. Se você entender o que fala uma onça, cuidado! Porque você está virando onça. Quando você começa a entender é porque alguma coisa está estranha. Normalmente significa que você está atravessando a barreira das espécies. Cada espécie é humana para si mesma. Duas espécies jamais podem ser humanas uma para a outra.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E o homem e a mulher são da mesma espécie?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: São. Isso é uma questão que várias vezes se coloca. Homens e mulheres são da mesma espécie, até segunda ordem! Mas isso que você falou é importante: a onça é gente para ela!
SÉRGIO DE CASTRO: Nesse sentido, não é propriamente delirante.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: De fato. Se você começar a entender o que a onça está falando, você está louco. Louco não no nosso sentido, mas no sentido indígena.
SÉRGIO DE CASTRO: Estaria se passando algo?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Se você está entendendo o que a onça está falando, você estaria mudando de espécie. Só tem alguns seres, alguns indivíduos que têm a capacidade de ir e voltar, de passar. São os xamãs. Senão não se saberia nada disso. Como o índio saberia sobre tudo isso que estou dizendo se não tivesse alguém que fosse capaz de virar onça e desvirar onça?
ANA LUCIA LUTTERBACH: É ele, quando desvira, que pode contar.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exatamente. Ele conta. Normalmente, o que acontece são momentos. Todo mundo tem momentos de loucura, no sentido de virar onça, sejam sonhos ou experiências aterrorizantes e inquietantes – no sentido freudiano – na mata, em que você está caçando e de repente ouve algum barulho e tem uma nítida sensação que tem alguma coisa te espreitando. É frequente os índios terem encontros na mata – eu não consegui entender o que isso significa, são sempre encontros solitários –, mas é um acidente comum de caça. O índio que está caçando, de repente o animal que ele está caçando – ele vê o animal –, o animal fala com ele ou se comporta de um jeito inesperado. Por exemplo: o índio atira a flecha no coração do animal e o animal não morre: arranca a flecha com a pata e se vira para o índio. Isso produz um trauma. O índio volta para a aldeia em estado de choque e, frequentemente, fica na rede deitado, catatônico. Então o diagnóstico clássico é: o espírito dele foi roubado por aquele animal. Agora o espírito dele está vivendo junto com aqueles animais, e o xamã tem que ir lá no mundo dos animais negociar a devolução do espírito dele porque ele foi capturado; ele se deixou definir, digamos assim, pelo animal. É como eles dizem: se um bicho falar com você na mata, não responda. Porque se você responder, você está dando a ele a condição de sujeito e estará entrando no mundo dele. Então você tem que – se acontecer de você ter um encontro na mata e o bicho falar com você – não responder porque se você responder... Como naquela história do vampiro: nunca convide o vampiro, pois você sabe que o vampiro só entra em sua casa – segundo filmes e o livro original do Drácula – se você convidar. Ele fica esperando na porta. Se você não convidar, ele não entra. Então é um pouco a mesma ideia: se o animal falar com você, não responda, não o convide para entrar, porque aí significa que você está deixando ele definir o que é humano. Se ele é humano, você automaticamente deixa de ser. Você passa a ser a presa. Esses encontros são relativamente frequentes, não acontecem todos os dias, mas são acidentes frequentemente relatados. Envolvem inevitavelmente a solidão – o sujeito está sozinho. Justamente ele não tem congênere com ele. Não há nenhum humano junto com ele, então ele está numa situação em que a humanidade dele não tem ninguém para reconhecê-la. Então ele pode se deixar hipnotizar, capturar metafisicamente pelo animal. Como eu disse, os índios não acham que entendem a fala das onças. Se eles puderem entender a fala das onças é sinal de que eles estão doentes. A alma deles foi capturada, estão virando onça, estão morrendo... ou estão virando xamãs. Todo xamã já foi um pouco louco. O xamã é um doente que se curou. Teve essas experiências e aprendeu a controlá-las e, portanto, ele consegue trafegar, ir e voltar. Em geral, os humanos normais, as pessoas que não são xamãs, não voltam para contar a história. Morrem, no sentido literal, se são capturados.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E o canibalismo?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: O canibalismo é uma grande questão. Assim como para nós o solipsismo é um grande problema, e, ao mesmo tempo, nós passamos o tempo todo falando em comunicação, assim também para os índios – tudo o que eles comem de alguma forma tem um subtexto canibal porque é humano; estar comendo é sempre estar comendo um humano. Toda questão indígena consiste em como se desumaniza aquilo que se vai comer, como se neutraliza o espírito animal ou o aspecto humano daquele animal que se vai comer. Então é frequente, há tribos que fazem isso, que o xamã faça uma transubstancialização, digamos assim, de algum animal, que retire do animal o componente humano para que ele se torne apenas carne.
SÉRGIO DE CASTRO: Há um certo horror ao canibalismo, da mesma forma como o horror ao incesto?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exatamente, há um certo horror. O que não impede que algumas pessoas o pratiquem. Ao contrário.
SÉRGIO DE CASTRO: Claro! Como em Totem e tabu.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Mas que pratiquem em condições eventuais, em condições eventualmente sagradas.
SÉRGIO DE CASTRO: Claro! Como se devora o totem. Mas para usarmos termos que Freud e também Lévi-Strauss usam, a partir de Totem e tabu, são momentos de transgressão. No momento canibal, não se desumaniza o que se está comendo; ali, come-se um congênere.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Com certeza. Primeiramente, o canibalismo não é, de forma alguma, universal entre os índios brasileiros; em segundo lugar, não é exclusivo dos índios brasileiros. É comum na América do Norte, em lugares da África. Há vários tipos de canibalismo: o canibalismo piedoso, religioso, funerário – no qual se comem as cinzas dos seus mortos – e que não tem nada a ver com o canibalismo bélico, quando você captura inimigos na guerra e, em seguida, os mata e os devora. Ambos são ritualísticos, mas são rituais com funções diferentes. O chamado endocanibalismo (comer os parentes mortos) é funerário. Não se mata os sujeitos. Espera-se ele morrer para depois comê-lo. Como os Nambiquaras, por exemplo. Tem grupos que comem os próprios mortos como uma forma de enterro. É uma forma de funeral. No caso do canibalismo guerreiro, ou exocanibalismo, você captura estrangeiros para executá-los cerimonialmente e devorá-los. A execução é sempre cerimonial, é sempre um momento de transgressão ritualizado, fortemente simbólico e, sobretudo, de humanização do prisioneiro, ao contrário do que se faz com o animal. Com o animal você pega um ser que é potencialmente humano e toma todas as precauções para desumanizá-lo para que o animal não se vingue, por exemplo. Para não ter problemas com o animal e dizer: aqui é só carne. Há alguns índios, inclusive, que chegam à sofisticação teológica de dizer que matam, digamos, um veado e antes de comê-lo chamam o pajé, o xamã, que diz: isso é mandioca. Ou seja, faz exatamente o contrário, isso é só pão, não tem carne nem sangue de ninguém. Evidentemente, é uma hipocrisia piedosa. Mas é também uma proteção. Já no canibalismo, que não chamamos de canibalismo, pois a rigor seria antropofagia... Canibalismo significa comer o semelhante; antropofagia significa comer o homem. Os índios acham que todo ato alimentar é potencialmente antropofágico, porque o animal possui um aspecto humano. Então você tem que desantropizar o animal para não cometer antropofagia. Já no caso do canibalismo, que é comer o semelhante, poucas espécies fazem isso.
SÉRGIO DE CASTRO: Mas esse exocanibalismo seria uma prática canibal?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Seria canibal e também antropófaga, como no exemplo de Hans Staden. Ao capturá-lo, a primeira coisa que fizeram com o Hans Staden – um europeu, alemão, louro – foi colocá-lo nu, cortaram seu cabelo e o pintaram à moda tupinambá. Isso era significativo: para matá-lo e comê-lo, ele teria que ser como eles. Ele teria que se tornar humano, porque humanos eram só os Tupinambá. Se ele tivesse uma barba, era bicho e não gente. Os índios têm essa concepção que nos desorienta um pouco. Ao mesmo tempo em que são frequentemente descritos na antropologia como etnocêntricos, porque, por um lado, acham que só eles são verdadeiramente humanos e que outras tribos ou povos são menos que humanos; por outro lado, dizem que os animais são gente. É como se, do nosso ponto de vista, eles errassem sempre. Nós sabemos quem é gente e quem é bicho. Os índios acham que tem outra gente que não são gente e tem bichos que são gente. Na verdade, eles têm outro mapa, outra cartografia antropológica.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Não têm o conceito de hóspede ou de anfitrião?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Têm vários. Até certo ponto, a vítima canibal é um hóspede que, em seguida, é humanizado. E há todo um diálogo – exatamente o contrário do caso que falei antes, o de não responder se um animal falar com você. O ritual canibal é todo preparado por um diálogo entre a vítima e o matador, em que o matador pergunta: você é fulano da tribo tal, que matou meus parentes na guerra tal no ano passado? E o cara diz: sim, sou o fulano da tribo tal que matou teu pai na guerra passada, pode me matar agora que amanhã você é que vai ser capturado pela minha tribo, que vai te pegar e vai te matar.
Então, o canibalismo é exatamente a inversão transgressiva desse processo normal de alimentação em que você tem que tomar cuidado para não comer gente. No canibalismo é o contrário. Toma-se um cuidado extremo para que aquilo que você for matar e comer seja integralmente gente. Seja, na verdade, eles!
ANA LUCIA LUTTERBACH: Tem ideia de vingança?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Total! Vingança é o tema. Em tupinambá, o canibalismo era o ato supremo da vingança. A vingança era, inclusive, mais importante que o canibalismo a tal ponto que, quando os padres missionários, junto aos governos coloniais, compeliram os índios a abandoná-lo, foi mais fácil do que se pensa. Justamente porque era uma prática transgressiva e perigosa que mobilizava afetos complexos. Eles abandonaram o canibalismo com relativa facilidade. O que eles se recusaram terminantemente a abandonar foi a vingança. Muitas vezes, já que eles não podiam comer os prisioneiros, porque os guardadores, os padres, os exércitos coloniais não deixavam, eles desenterravam os mortos inimigos para quebrar o crânio do morto com um tacape, que era o gesto crucial da cerimônia – quebrar a cabeça do inimigo para matá-lo. Em seguida, ele era comido. Mas o ser comido era como se fosse um ato de perfeição, no sentido etimológico de perfazer, de terminar o ato supremo da vingança. O ato crucial da vingança era a execução do prisioneiro precedida desse diálogo que garantia que os dois eram humanos e sabiam muito bem o que estavam fazendo ali.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Mas nessa descrição parece que é uma vingança que elimina o ódio.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Era uma situação muito complexa. O inimigo muitas vezes ficava meses morando na aldeia e tratado como um hóspede.
Davam uma mulher para ele. Quando tinham filhos, matavam e comiam os filhos. Isso é específico dos Tupinambá – eles eram rigorosamente patrilineares na concepção. O filho de uma mulher com um homem era inteiramente feito do homem. Então o filho do inimigo com uma mulher da tribo é um inimigo como o pai. Inclusive para a mãe. Havia problemas: a mãe frequentemente fugia com o menino ou não comia a criança. Às vezes, o inimigo passava anos na aldeia como um hóspede e, às vezes, ia para a guerra, junto com a tribo, lutando como se fosse da própria tribo. Não fugia por uma razão muito simples, de honra, uma vez que ele era deixado em total liberdade. Se ele fugisse, sua tribo jamais o receberia de volta, dizendo: você é um covarde, você não acredita que nós tenhamos a capacidade de vingá-lo.
SÉRGIO DE CASTRO: Relançava a próxima guerra.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Exatamente. Isso permitia que a máquina continuasse funcionando. Se ele fugisse, ele estava estragando o jogo – no sentido elevado da palavra. Um jogo ritual altamente elaborado que não tinha nenhum componente alimentar. Ao contrário do animal diante do qual o objetivo era conseguir comê-lo, no caso do canibalismo o valor alimentar era irrelevante a tal ponto que muitas vezes se chamava cinco mil pessoas para assistir à execução e se cozinhava o cadáver do prisioneiro, que não dava para cinco mil pessoas. Ou seja, o que você comia era uma diluição homeopática.
Comecei a trabalhar a questão do canibalismo porque no meu trabalho de campo, entre os Araweté, na Amazônia, o canibalismo, de certa forma, era presente. Eles falavam tupi, como os Tupinambá do Rio de Janeiro, mas o canibalismo era póstumo, espiritual, das almas que eram devoradas pelos deuses. Aquilo me parecia, no entanto, muito semelhante com o canibalismo real que os Tupinambá praticavam. Ao estudar o canibalismo tupinambá, comecei a perceber que uma das coisas que aparecia nas crônicas dos missionários que assistiram às execuções, testemunhas do ritual, como uma frase muito interessante de Anchieta em que dizia: o diálogo entre o matador e aquele que vai ser morto dava a impressão de que o morto é que era o matador, tal sua arrogância. Comecei a perceber, então, que todo mundo comia o prisioneiro morto, menos o matador. Em segundo lugar, assim que ele matava o prisioneiro, ele entrava em luto, em reclusão, ficava nu, tomava banho, ficava na rede durante semanas. Como dizem esses cronistas: em luto por sua vítima. O que significava, em última análise, que ele e o prisioneiro estavam em relação especular total; na verdade, eram indistinguíveis. Uma espécie de fusão – temporalmente, inclusive – em que o prisioneiro dizia: você que está me matando agora, vai ser morto amanhã. Então havia uma espécie de reverberação, de indistinção entre os dois, justamente marcado pelo fato de que ele não podia comer o inimigo porque ele era aquele cara. Havia uma identificação, no sentido literal, do matador com a vítima, que é o contrário do que acontecia com o animal, quando havia uma total desidentificação: isso aqui não é gente. Então o canibalismo é antialimentar num certo sentido. É uma transgressão, mas era uma espécie de reflexão, no sentido filosófico, sobre essa questão da humanidade, da não-humanidade; do semelhante e do diferente; do fundo humano de todos. E ao mesmo tempo você tinha que transformar o inimigo, que não era gente, em gente como nós para poder matá-lo; e o animal que era tido como nós, você tinha que transformá-lo em não-gente para poder comê-lo. Isso me levou a definir, antes de falar da história do perspectivismo e daquela anedota do Lévi-Strauss, que o canibalismo na verdade é um processo porque, afinal de contas, o que esses caras estão comendo? Não é carne, nem milho; não é um problema alimentar, e também não há nenhuma informação na literatura sobre qualquer virtude que a carne do inimigo possuía ou coisa parecida. Formulei então a ideia, uma hipótese teórica, de que o canibalismo é um processo de assunção, de tomada do ponto de vista do inimigo. O matador se via como inimigo do inimigo e, portanto, ele se transformava em inimigo, quer dizer, ele se determinava como inimigo. Era o processo de um transformar-se no outro; processo de você assumir o ponto de vista do inimigo. O que se comia, o que se matava era a sua relação com o inimigo. E se adotava o ponto de vista sobre si mesmo. Você se determinava como inimigo. Isso apareceu para mim, pela primeira vez, quando eu comecei a analisar os cantos de guerra araweté, cantados depois que se matava o inimigo – eles não comiam, mas eles matavam. Os cantos de guerra me chamavam a atenção porque aparecia na letra dos cantos: meu inimigo me atacou, meu inimigo me matou, eu fugi, coisas desse tipo. Comecei a perguntar quem é o inimigo, quem é que está falando aqui? Ah! é o cara morto. Percebi que quem dizia eu no canto era o morto e quem era o meu inimigo daquele eu, era o sujeito que estava cantando. Quando o cantor, que era o matador, dizia: o meu inimigo, ele está dizendo, na verdade, eu. Ele estava se referindo a si mesmo. Então se tinha: eu sou o inimigo. Essa ideia de que eu sou inimigo, para mim, era o segredo do canibalismo. Temos aí uma questão de jogo de perspectivas. O que está em jogo no canibalismo é uma determinada operação-perspectiva de assunção do ponto de vista do outro.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Tem alguma relação com o Unheimlich do Freud?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: A inquietante estranheza? Sim, claro. Até atribuiria mais o Unheimlich àqueles encontros no mato em que você tem a sensação de que algo está errado; nada aconteceu, mas tudo mudou. A floresta está igual, mas de repente você entrou num mundo de uma subjetividade alheia.
ANA LUCIA LUTTERBACH: É, mas tem também um sentido do Unheimlich, o “estranho familiar”, em eu sou o inimigo. Parece que ele entra em contato com o inimigo que ele é.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Sim, dentro de si. Tenho como epígrafe de um artigo que está no A inconstância da alma selvagem e que se chama “Imanência do inimigo”, um poema do Sá de Miranda, da época medieval. Ele era português, da Renascença portuguesa – “tornei-me inimigo de mim”, ou algo assim. “Viver comigo eu não posso; não posso viver sem mim; tornei-me imigo”, como se escrevia na época, “tornei-me imigo de mim”. Então a ideia de que todo ser contém um inimigo interno indica que o canibalismo é uma maneira de assumir essa condição inimitária como sendo, na verdade, a condição inclusive ideal para o homem adulto tupinambá.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Porque isso ultrapassa um pouco a questão do imaginário desse outro só imaginário. Fico com a impressão de que aí não é só esse encontro com esse semelhante no sentido imaginário.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Até digo em minha tese que quem comia ia para o real. Quem se encarregava do simbólico era o matador. Ele tinha o peso de carregar nas costas o problema do simbólico. Era o guardião do simbólico. Entrava em luto, trocava de nome. Frequentemente o nome que recebia era o do inimigo. Ele se encarregava de todo o simbólico, vamos dizer assim; e os convidados, a aldeia, a polis, fazia alguma coisa que era absolutamente diversa, no real, digamos assim.
No meu trabalho, comecei a dizer: na verdade, esse gente é só um pronome; o humano, na verdade, é muito menos um substantivo do que um pronome. Humano é quem diz eu. Todo mundo a quem você concede a palavra é humano, imaginariamente, mas pouco importa desde que você coloque a onça na posição de dizer eu. O humano para mim é muito mais um pronome do que um substantivo. Daí a ideia do perspectivismo, é a ideia de um jogo pronominal: quem diz eu, quem diz tu; o que é eu, o tu e o ele? Essa história...
SÉRGIO DE CASTRO: Mas e o substantivo do corpo?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: O corpo. Veja só. Na discussão com Tânia, uma colega, surgiu uma questão para mim: se tudo se vê como gente, por que a gente não vê a onça como gente? Já que tudo é humano, o que distingue? Foi nesse processo que, por acaso, abri Tristes trópicos e topei com aquela anedota dos dois métodos antropológicos de investigação de saber se o outro era gente ou não. Ali Lévi-Strauss conta ironicamente, como era seu estilo, para mostrar como ambos os lados eram ignorantes, eram etnocêntricos. Veja só, nem os europeus acreditaram que os índios fossem gente, nem os índios acreditavam que os europeus fossem gente, mas o método não era o mesmo. Ele não dá muita ênfase, ele até brinca assim: os índios eram até mais científicos do que nós porque eles usavam o método das ciências naturais – a experiência concreta. E nós estávamos com o método das ciências sociais, mandamos teólogos para investigar esses caras. Pensei que tinha mais do que isso. Os europeus não duvidavam que os índios tivessem corpo. Seu problema era se eles tinham alma, pois corpo todo mundo tem. É justamente, para nós, o substrato universal: matéria, corpo, funções corporais. Isso tudo liga o humano ao resto do universo. O que distinguia os humanos do resto do universo – o problema dos teólogos da época – era principalmente se eles tinham uma alma imortal ou não. Em certo sentido, era um problema do antropomorfismo, formulado nos termos da época: eles têm alma ou não têm? As intenções dos europeus eram as piores possíveis: podemos matar todos ou temos que converter, porque são gente e então se pode escravizar. Os europeus mandavam teólogos para ver se os índios eram seres de razão, como se dizia na época, se eram capazes de entender, de conversar e acabaram concluindo que eram gente! O que não melhorou em nada a situação para os índios.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E os índios concluíram que os europeus eram gente?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Lévi-Strauss embelezou um pouco a história: era um caso – foi em Porto Rico que se passou – em que um chefe indígena pegou um pobre marinheiro espanhol, matou-o, colocou-o dentro de uma canoa cheia d’água para ver se ele apodrecia porque eles não tinham certeza da humanidade daqueles seres. Quando viu que apodrecia, concluíram que eram gente. Imagina: a conclusão é ainda mais trágica: se esses seres são realmente humanos como nós, nós estamos fritos porque eles não param de chegar! A gente mata e eles continuam vindo. Eles são infinitos. Ou seja, perdemos a guerra. Não são espíritos para que possamos, eventualmente, negociar. São gente como nós, mas infinitos, não param de chegar. Enfim, o que me interessou era que eram dois métodos diferentes. O diferencial para o índio era o corpo. Aquilo que distinguia, vamos dizer assim, o marcador ontológico fundamental era a corporalidade. E o marcador ontológico para nós era o espírito, a alma, o marcador ontológico-antropológico. Se é gente como nós, é pelo corpo ou pela alma. Eles não tinham dúvida que tinham um corpo porque bicho também tem. Os índios não tinham dúvida de que aqueles seres tinham espírito porque tudo tem espírito. A questão era saber se eles tinham um corpo “humano”. Espírito eles certamente tinham porque animal também tem. Então ambos partiam do princípio de que aqueles seres não eram humanos, aliás, eram problematicamente humanos, então vamos testar. Para nós o problema estava na alma e para os índios estava no corpo. Isso explica uma porção de coisas. Explica porque os índios dão essa atenção “maníaca” – entre aspas – ao corpo como lugar de marcação, porque esse corpo de fato é crucial. Se o corpo humano é uma forma genérica com que todo ser se percebe na sua autopercepção, como eu construo o próprio, como eu faço um corpo propriamente humano, entenda-se, propriamente tupinambá, propriamente araweté, propriamente caiapó? Porque humano é uma palavra genérica demais, uma vez que tudo é humano. O problema é como se é tupinambá. Para isso, é preciso determinar o corpo como especificamente tupinambá. Tornar meu corpo diferente do corpo genérico da onça, do branco, do jacaré, esse corpo nu. É preciso vestir o corpo, e isso significa marcá-lo e modificá-lo, segundo as maneiras mais comuns de construir um corpo propriamente humano, no sentido de exclusivamente meu, tupinambá, da minha sociedade, utilizando pedaços dos corpos animais: plumas, penas, garras. É como se eu tomasse do mundo animal, das roupas animais, pedaços dos corpos das suas aparências para construir uma espécie de animal compósito que vai marcar a minha identidade étnica, distintiva. Então o Tupinambá tinha um corte de cabelo específico, botava plumas de arara e de avestruz atrás, uma tatuagem específica, fazia furo no lábio, botava uma pedra de jade. Construíam um corpo inteiramente artificial usando elementos da natureza tomados, sobretudo, dos corpos dos animais, para construir um corpo humano. Mas segundo outro sentido de humano: humano sua tribo, sua gente, os verdadeiros humanos, aqueles que ele olha e vê como outro humano. Quando olha um Hans Staden, não vê um outro humano, vê algo meio bicho, sabe-se lá se é macaco, se é gente ou se é um espírito. Então vai pegá-lo e, em vez de afogar como fizeram aqueles outros, pega como prisioneiro e o veste como tupinambá. Depilam-no, pintam-no para marcar. Ou seja, é no corpo que se marcam as alterações que na nossa cultura são frequentemente atribuídas ao espírito.
SÉRGIO DE CASTRO: Poderia se falar de um materialismo?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Tanto quanto se poderia falar de um animismo, um espiritualismo, visto que a alma é precisamente aquilo que junta todos os seres. O fundo do ser é o espírito no sentido de que tudo pensa, tudo há, tudo reflete, tudo tem intenções, tudo significa, tudo fala, tudo ouve.
SÉRGIO DE CASTRO: Mas esse corpo afogado que vai apodrecer, haveria algo nisso de uma posição materialista, de uma entrada diferente em questões muito próximas?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Sem dúvida, mas veja só: o materialismo era derivado do fato de que o espiritualismo jamais esteve em dúvida. O animismo universal, a ontologia espiritualista era a base. Isso eles já sabiam, porque todos certamente têm espírito. Inclusive, todo espírito para si mesmo tem forma humana. Então esse cara tem forma humana para eles, mas vamos ver se ele é gente mesmo. Tem um episódio estritamente análogo na Nova Guiné, que foi invadida e colonizada pelos europeus muito mais tarde. Nas partes mais altas da Nova Guiné, há montanhas muito altas onde moravam milhares de pessoas, e até 1930 ninguém tinha chegado lá. As primeiras patrulhas australianas que chegaram lá descobriram uma quantidade imensa de povos de quem nunca ninguém tinha ouvido falar. Hoje temos narrativas e memórias dos índios de lá que dizem que no primeiro encontro com o branco, eles achavam que todos eram espíritos. Então eles encarregam um menino de espiar para vê-los defecando, para ver se eles defecavam. O menino falou que cheirava igual a eles. Então eles concluíram que era gente! Materialismo, realmente. E a questão é exatamente igual. Nesse caso não foi matando, mas passa pela mesma coisa: se apodrece, tem corpo; se cheira igual a um ser humano, é gente igual a nós.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Você marca muita coisa do artifício no corpo, da imagem, do olhar. Parece que o olhar tem uma importância.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Tem. O olhar tem uma ênfase muito grande. O ouvido também.
ANA LUCIA LUTTERBACH: É. Isso que eu queria perguntar, a questão da voz, da língua no corpo.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Sem dúvida, uma das coisas fundamentais para eles é: para ser realmente gente, você tem que falar a nossa língua. A língua é um marcador fundamental da humanidade, mas da humanidade nesse sentido da propriedade. Para os Tupinambá, gente de verdade tem que falar tupinambá. Se você não falar, você não é gente, você é menos que gente. Então a língua é fundamental. Mas quanto à questão da visão – não só no Brasil, mas em outros lugares no mundo em que o perspectivismo aparece também nesses termos –, eles frequentemente descrevem que o que distingue as espécies entre si é que elas têm olhos diferentes. Os olhos de cada espécie são diferentes. Então eles veem as coisas diferentemente da gente. Eles marcam muito o olho como sendo o órgão que define a essência específica – no sentido zoológico, genérico – de cada tipo de ser. Um ponto importante a lembrar é que quando eles dizem que as onças são gente, o que interessa mais a eles não é que elas sejam gente porque têm alma humana, mas porque elas formam uma sociedade. Elas são parte de um corpo político; são uma tribo. Como tem a tribo dos Tupinambá, tem a tribo das onças, a tribo dos jacarés, a tribo das cobras, a tribo dos brancos. Então eles estão sempre pensando em termos de coletividade; o humano aí é essencialmente uma categoria coletiva. Não é o indivíduo. O humano é um ponto de vista, portanto é um pronome. É quem diz eu. E nesse sentido o humano não é uma substância.
Mas o corpo é outra conversa. Justamente, a questão toda é como é se fabricar um corpo humano. Humano no sentido de próprio, não no sentido de humano nesse sentido genérico, onde o universo inteiro é humanoide. Mas como é que fabrico um corpo próprio que me distingue. Aí envolve não só esse trabalho de marcação, de inscrição, de mutilação, de incisão, de decoração, pintura etc. Tudo o que esculpe um corpo desse corpo humano genérico. Um corpo específico no sentido literal em que cada sociedade se vê como uma espécie, assim como cada espécie é vista como uma sociedade. A tribo dos jaguares é da mesma natureza que a tribo dos Tupinambá. A tribo dos Tupinambá é uma espécie. É como se fosse uma espécie natural e vocês brancos são outra espécie, o que não significa que não possa haver casamentos, trocas de corpos justamente, e até tem que haver trocas de corpos porque, mesmo dentre os Tupinambá se fabrica um corpo distintivo. O corpo de alguém é diferente do corpo da sua esposa, porque seu corpo é igual ao da sua irmã e por isso ele não pode casar com ela. Então existem distinções internas que dizem respeito a corporalidades intraespecíficas, mas que são de outra natureza que as corporalidades pan, próprias da espécie como um todo. Existe o homem Tupinambá, o homem no sentido o humano-tupinambá, que é o humano propriamente dito e que tem que ser fabricado, mas dentro desse humano Tupinambá existem diferenças corporais que são marcadas no corpo justamente. Por exemplo, os índios dão importância imensa a restrições alimentares e ao fato de que parentes possuem um mesmo corpo. Em que sentido: é num sentido muito mais ideal do que no nosso. Se você, por exemplo, é meu pai e você fica doente, eu não posso comer uma porção de coisas porque se eu comer vai prejudicar você. Então, na verdade, os corpos se comunicam. Há uma espécie de corporalidade coletiva do corpo de parentes. Os parentes formam um corpo; eles compartilham um corpo à distância. Esse sentido de que se a mãe e o filho, para nós, compartilham o mesmo corpo, para eles é como se os parentes fossem um grande útero, que estivessem todos em comunicação, mesmo quando já estão com os corpos – no sentido banal da palavra – separados. Então, se meu filho fica doente, eu tenho que fazer uma série de restrições alimentares para não prejudicá-lo. Não posso fazer uma série de coisas: não posso caçar, não posso sair no sol. Ou seja, muitas das coisas que, para nós, se passam no plano da mente ou da cultura ou do espírito, para os índios é o contrário: são processos que se passam no corpo.
Por exemplo, para nós, o processo de mudança cultural, de aculturação é essencialmente concebido como mudança de conteúdos mentais. É muito moldado, penso eu, no modelo da convenção religiosa, em que você vira outra pessoa porque você muda o modo de pensar. Então, para os índios, tem sempre a questão: estamos virando brancos, vamos virar brancos... como é que um índio vira branco? Para nós, essencialmente, o índio vira branco quando ele começa a pensar como branco. A ideia de que se transforma índio em branco mudando o que ele tem na cabeça, digamos assim, ainda que para fazer isso você tenha que mexer no corpo dele, mas essa mexida no corpo é meramente instrumental. Ou seja, bota calção neles.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Isso é devido à vergonha.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É. Mas o que importa, a disciplina corporal é parte, na verdade, de um processo espiritual fundamental. Nos índios é exatamente o contrário: você virar branco é começar a comer como branco, comida de branco, é ter relações sexuais com branco, se vestir como branco, fazer coisas que branco faz. Ou seja, é o seu corpo que vira branco e não a sua alma, seu espírito, os conteúdos mentais. Os conteúdos mentais seguem a mudança corporal e não o contrário. Para nós, a mudança espiritual produz uma mudança nos seus hábitos corporais: você vira evangélico, você para de beber, começa a vestir manga comprida e assim por diante. Mas você faz isso porque você virou evangélico. Os índios pensam como a famosa frase de Pascal: se você não tem fé, ajoelha e reza que você vai ter. Pascal dizia e não de forma irônica, era verdade. Ajoelhe todo dia que você vai acabar tendo fé. Isso é um pouco o modo indígena de pensar. Mude o seu corpo, mude os seus hábitos corporais, troque substâncias corporais com quem você interage, mude a sua comida, mude seu parceiro sexual por um parceiro sexual branco que você vai acabar virando branco. Porque aí sim, você vai começar a pensar como branco. Ou seja, para eles então a cultura não está na mente como para nós. Para nós a cultura é essencialmente uma cosa mentale, quer dizer, que a cultura está na maneira como as pessoas concebem as coisas, pensam as coisas. Para os índios a cultura está no corpo.
SÉRGIO DE CASTRO: Essas marcações corporais como pintura e marcas são absolutamente singulares?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Elas não precisam ser necessariamente singulares. São combinações, até porque é frequente os índios verem uma pintura de uma outra tribo e acharem interessante e colocarem neles, mas nunca igual. Eles vão fazer alguma modificação.
SÉRGIO DE CASTRO: Mas entre membros da mesma tribo?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Frequentemente há variações, mas são variações próprias daquela tribo. Se você é especialista e olha diretamente para um índio, você diz: esse é araweté, esse aqui é caiapó, pelo corpo. Imediatamente pelo corpo você vê o tipo de deformação corporal, desse corpo humano abstrato, genérico, cinco dedos, duas pernas e tal, isso aí não serve para nada, isso é um substrato. Então, para ele, o corpo ocupa essa mesma função diferenciadora que, para nós, ocupa a alma. Nós imaginamos nossa espécie como possuindo um atributo espiritual específico: a cultura, ou a linguagem que só os homens têm. Dentro dessa espécie nós imaginamos cada sociedade como possuindo um conteúdo espiritual específico: é a cultura daquele povo, é o espírito daquele povo. E dentro de cada povo nós imaginamos cada indivíduo como se distinguindo do outro, essencialmente, pelo seu conteúdo mental a tal ponto que eu posso imaginar, perfeitamente, trocar de corpo com você – ficção de que um passa para o corpo do outro –, mas trocar de alma com você no sentido de trocar de conteúdos espirituais, é impossível porque se eu trocar de alma com você eu vou ser você.
SÉRGIO DE CASTRO: Na nossa orientação atual em psicanálise, há algo de absolutamente irredutível nesse corpo. Talvez seja daí que possamos dizer que estamos além do estruturalismo. Nós ultrapassamos essa estrutura intelectual. Para nós, a estrutura é o intelectual lévi-straussiano, acrescido do desejo, mas o desejo também se resolvia no plano do significante e da linguagem, do espírito. Com o conceito de gozo e o que nós chamamos de real, marcamos singularmente o corpo, de forma irredutível.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Só que no nosso caso – e talvez seja essa a diferença para os índios –, esse corpo é individual por excelência. No caso indígena, esse corpo é coletivo no sentido de que o que ele marca pertence a um corpo de parentes. A um corpo literalmente transindividual. A analogia mais próxima seria, como eu disse, a mulher com o filho na barriga, em que dois corpos estão, de alguma maneira, misturados, em fusão; tudo o que a mulher come faz mal ao filho. Exatamente: não pode fumar, não pode beber. De alguma maneira, para os índios, isso vale de uma maneira muito mais geral. Então, por isso há uma diferença aí: o corpo para eles é o lugar da singularidade, mas da singularidade coletiva. Não da singularidade individual. Da singularidade de um determinado corpo coletivo transindividual, de parentes. Por isso, o parentesco é tão tematizado pela antropologia porque ele fala de como os índios concebem a pessoa como um composto de outras pessoas que são seus parentes. Então você é, na verdade, uma pessoa dividida, composta. E tem vários rituais de iniciação, em várias tribos primitivas, em que você tem que pegar os meninos – os rituais são todos masculinos – e você precisa desmaternizá-los, tirar deles toda a parte feminina porque ele, na verdade, foi feito por um homem e uma mulher, então ele tem uma parte masculina e uma parte feminina.
ANA LUCIA LUTTERBACH: É a parte feminina ou é a parte da mãe?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É a parte da mãe, então você tem, na verdade, que colocá-lo num estado indiviso, inteiramente masculino; você tem que obliterar, eclipsar, eventualmente cancelar a parte feminina desse corpo. Então o corpo indígena é um corpo, em primeiro lugar, coletivo; em segundo lugar, ele é feito de outros corpos, a ponto de que o meu corpo e o seu corpo, se nós somos parentes, estar em comunicação perpétua, numa ação à distância, digamos. O que para nós é meio impensável, ainda que funcione para a mãe e o filho na barriga, e só. Naturalmente, se minha mulher estiver doente, eu vou comer minha feijoada porque eu sei que não vai fazer mal a ela. Ainda até que eu possa não comer por solidariedade ou alguma coisa do gênero, mas que não deixa, de certa maneira, de exprimir uma vaga concepção de que esses nossos corpos estão em comunicação. Nós só transferimos isso para o espírito. Faz-se isso por solidariedade espiritual.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Por amor.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Por amor. Mas o amor entendido aí como uma empatia que não é corporal. Só que é corporal, é claro que é! Eu acho que a distinção – e talvez o que valha a pena a gente explorar é isso: o corpo pensado pela psicanálise como sendo o lugar da absoluta singularidade individual e o corpo indígena como sendo um corpo singular, no sentido de que distingue tipos de ser, tipos sociais de ser e não tipos individuais de ser. Não distingue indivíduos, mas distingue coletividades.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Mas singularidade coletiva é meio paradoxal.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Talvez seja a coisa que marque em última análise a questão geral, uma macroquestão, que é aqui para nós a última ratio, o último lugar irredutível é o indivíduo entendido como corpo, precisamente. Antes podia ser o indivíduo enquanto cogito, enquanto eu. Para os índios, esse cogito ou esse corpo são coletivos. O corpo indígena é um corpo de parentes. Não é um corpo de indivíduos.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E parente é só consanguíneo?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Depende. Tem toda uma questão: os índios frequentemente casam com o que nós chamamos de parentes, até porque eles são sociedades pequenas, pessoas que eles chamam de parentes, mas que são afins e não consanguíneos. Consanguíneo, no que a palavra tem de sentido técnico em antropologia, não é quem tem o mesmo sangue, DNA ou coisa parecida. Consanguíneos são aquelas pessoas com as quais eu não posso casar. E afins são aqueles parentes com os quais eu posso casar. Então, por exemplo, nos Tupinambá a mãe e o filho não são parentes porque a mãe não transmite nenhuma substância ao filho. O filho é inteiramente do pai. Então é por isso que o filho do inimigo era comido: porque a mãe era Tupinambá, mas o filho não.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Eles não são parentes, mas não podem se casar.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Tem essa complicação. As coisas não coincidem todas. O filho não é parente consanguíneo da mãe – no sentido que nós damos à palavra –, mas ele é um parente consanguíneo da mãe no sentido que os índios dão à palavra. Ou melhor, que nós usamos para descrever os índios, ou seja, pertence ao grupo dos não casáveis. Essa distinção entre o casável e o não casável é fundamental no mundo indígena. Enfim, o incesto é todo articulado a partir disso. Essa distinção não é necessariamente entre um tupinambá e um não tupinambá. É uma distinção interna aos Tupinambá, no caso, que casavam só com tupinambá ainda que pudessem casar, eventualmente, com estrangeiras e tal. Mas é uma distinção interna aos corpos dos Tupinambá: os corpos de parentes casáveis e os corpos de parentes não casáveis. E esses corpos são corpos coletivos, corpos que se comunicam entre si. Mas tinha toda a sorte de coisas que iam acontecendo. Por exemplo, é muito comum marido e mulher nas tribos indígenas que são, a priori e no começo, pertencentes a corpos de parentes opostos, ao cabo da convivência, ao cabo da troca de substâncias corporais, de comer a mesma comida, de comer junto, de ter relações sexuais, se tornarem consubstanciais. Passam a ter o mesmo corpo e, frequentemente, eu não posso comer a comida se minha mulher estiver doente porque, na verdade, nós temos o mesmo corpo. Ela tornou-se consubstancial a mim. Então, há toda sorte de complexidades. Talvez a diferença fundamental seja essa: o corpo indígena é um corpo ao mesmo tempo diacrítico, que marca as especificidades muito mais do que no espírito, na alma, mas ao mesmo tempo ele é um corpo coletivo. Os índios pensam a humanidade sempre sob a forma da coletividade. E nós pensamos a humanidade sempre sob a forma da individualidade.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E o que organiza esse coletivo? Começamos falando do declínio da função paterna que organizava nossa cultura.
SÉRGIO DE CASTRO: Além do Édipo. O Édipo deixou de ser uma referência para a gente. O que os mantém juntos?
ANA LUCIA LUTTERBACH: Na sua entrevista à jornalista Eliane Brum, no jornal El Pais, você fala do movimento de junho de 2013, sobre a dispersão dos interesses, dizendo que não há UM que reúna isso, cada um participa pelo seu interesse. E você vai caminhando nisso até dizer – uma coisa que adorei – que os índios são especialistas em fim do mundo. Você fala dessa questão do ambiente, da precariedade dos pobres e dos índios. Aliás, o seu conceito de índios inclui os pobres.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Não seja pobre, seja índio, é minha frase antropofágica. Eu me lembro de um antropólogo e psicanalista francês que, provavelmente já morreu, ele era africanista, ele morou na África, e descobriu que em Moçambique, durante as guerras de libertação, havia coisas horrorosas. Trabalhou nas tribos africanas que são sociedades nas quais o que chamaríamos de função paterna é fortemente definida, com cultos ancestrais, patriarcalismo. São sociedades fortemente marcadas. Todas essas estruturas, na verdade, são muito semelhantes às do Velho Mundo. Para quem trabalha com índios das Américas, como eu, a África é muito parecida com a Europa do ponto de vista do seu universo imaginário e das suas estruturas simbólicas. São muito parecidas. Estão em comunicação há milênios. É o Velho Mundo. No Novo Mundo, um índio é muito mais diferente de um africano do que um africano de um dinamarquês, quando se chega no nível das origens, das suas estruturas simbólicas, no sentido que a antropologia dá à palavra. Houve aqui, entre os ameríndios, um isolamento de aproximadamente 30.000 anos. Eu me lembro que esse antropólogo psicanalista africanista foi convidado por um colega meu francês, que também é americanista como eu, a visitar os Ianomâmi e quando ele voltou, a primeira coisa que ele disse foi: Esses caras não têm simbólico! Esses caras são psicóticos! Eles não têm simbólico! Não tem pai naquela sociedade!? Não tem a função paterna?!
ANA LUCIA LUTTERBACH: Então, o que é que organiza as tribos, o que reúne as tribos? O que faz da tribo uma tribo, que é UMA?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Nada! Ela nunca é uma; ela está sempre se dividindo. Eles usam a guerra contra os outros.
ANA LUCIA LUTTERBACH: É o Outro?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: É o Outro que faz o Um.
SÉRGIO DE CASTRO: O Outro inimigo?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: E esse Outro está completamente dentro também, porque a tribo está constantemente se externalizando, se dividindo, se cindindo e, portanto, essa unidade é sempre temporária, sempre precária. Dependendo do nível que você está falando, o que une a tribo é o conjunto e a língua.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Quer dizer, não é o xamã.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Não. Pode ser o chefe, mas o chefe tem aquela função, que [Philippe] Descola descreveu muito bem, o chefe está ali como a rainha da Inglaterra. Você coloca o sujeito ali para ele servir de âncora para que o grupo se pense como um grupo porque tem um cara que fala em nome do grupo, que faz discursos que ninguém ouve, que ninguém presta atenção e ele fica falando. É um chefe sem poder. A função dele é simplesmente unificar o grupo, mas essa função é altamente instável. A coisa mais frequente do mundo é uma expressão em inglês que significa botar com os pés: quando você não está satisfeito com a sua tribo, você vai embora. Você pega a sua família e faz outra aldeia. Como não tem um monarca, não tem uma polícia, não tem uma estrutura transcendente, não tem uma constituição, não tem nada que te obrigue a ficar ali.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Mas ele vai embora para onde?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Antigamente você podia ir embora de uma aldeia – a Amazônia, o Brasil era grande – e você chegava e saía com seus parentes.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E conseguia sobreviver...
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Sim. A política de uma coletividade indígena é marcada por um faccionalismo muito intenso. São sociedades que são unidades, mas divididas internamente o tempo todo. Uma sociedade indígena é igual a uma república florentina do século XVI: tem toda a sorte de feitiçaria, de invejas, de conflitos latentes etc. Estão sempre ali, e na primeira oportunidade – se a gente pode chamar de oportunidade – a tribo se racha. É por isso que geralmente são populações pequenas. Dificilmente você tem sociedades indígenas com mais de 500 pessoas no mesmo lugar, na mesma aldeia, porque eles não aguentam. Eles não toleram. Não há nada que os obrigue a tolerar, como nós somos obrigados a tolerar, viver em coletividades de milhares de pessoas porque não temos um passaporte, não podemos cruzar a fronteira, temos a polícia, temos a cidadania marcada em um papel. Não há nada que os obrigue a viver naquela coletividade.
ANA LUCIA LUTTERBACH: Mas o que eu pensei é na sobrevivência mesmo. Quer dizer, um corpo de parentes, eles sozinhos conseguem criar uma nova aldeia com recursos para caças e tal?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Um casal de velhos com um número razoável de filhas e genros, porque a maioria dessas são o que nós chamamos uxorilocal, quer dizer, os maridos vêm morar com os parentes da esposa, então os seus filhos vão embora para a casa das esposas e as suas filhas trazem os maridos para a sua casa. A grande relação de autoridade na sociedade indígena não é pai e filho, mas é sogro e genro. Tem uma única coisa que o homem precisa para ser completo, que é uma esposa. Então quem, de fato, detém o recurso escasso nessa sociedade é o sogro, não é o pai. Porque herança, eles têm pouquíssima coisa. Não há transmissão de propriedade. Quando um sujeito morre, você quebra, queima e enterra todos os bens deles. Uma das coisas mais fundamentais da estrutura patriarcal no Ocidente é a transmissão da propriedade. Ali, trata-se de uma sociedade na qual não há a transmissão de propriedade, digamos assim, uma vez que o filho está adulto. Quem tem autoridade sobre o filho é quem tem a esposa potencial do filho. Então é ao sogro que o genro deve obediência, deve serviços, tem que trabalhar, às vezes, anos na roça do sogro até ter o primeiro filho. Aí já consegue sair dali e fazer a sua casinha separada. Eventualmente, vai ser a célula que vai dar origem a uma nova aldeia etc. Mas a grande relação de poder nessa sociedade, a relação crítica, se a gente puder falar assim, é a relação sogro/genro. Porque o sogro é o dono da filha, digamos assim, e, portanto, é o dono da esposa.
ANA LUCIA LUTTERBACH: E um dia o marido torna-se dono da esposa?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Não. E um dia o marido vai tornar-se dono do marido da filha dele.
ANA LUCIA LUTTERBACH: É? Mas a mulher dele vai ser do pai sempre?
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO: Não é que ela vai ser do pai. Isso varia de sociedade para sociedade. Nas sociedades uxorilocais, em que os genros saem para morar com as esposas, as mulheres formam um grupo unido. Quer dizer, as mães ficam todas juntas, então na verdade são sociedades que são matriarcais não no sentido de que a herança vai ser transmitida pelas mães, como se imaginava o matriarcado. Mas são matriarcais no sentido de que as unidades familiares são compostas de irmãs. Mães, irmãs e os homens são todos vindos de outras casas. O sogro, ele próprio, foi um genro, o genro vai virar o sogro. Mas eles são sempre um pouco estrangeiros na casa das mulheres. As casas são femininas. Em geral, nessas aldeias em que as casas são femininas e quem manda é o sogro – que é, ele próprio, um ex-genro –, na verdade quem realmente é o pilar da continuidade familiar é a mulher dele. Ela é a matriarca nesse sentido. Os homens, em compensação, frequentemente possuem uma casa no centro da aldeia, onde só homens podem frequentar, uma espécie de clube masculino no qual as mulheres não podem entrar; e que tem coisas sagradas que as mulheres não podem ver. Há todo um teatro de compensação masculina, pelo fato de que a vida familiar concreta, doméstica, é fortemente marcada pela continuidade feminina e os homens, então, criam um espaço do sagrado, no meio da aldeia, em que se têm as flautas sagradas. Um espaço mais frequentemente ligado a mitos de origem. O matriarcado primitivo é um mito indígena muito comum. Não é só um mito ocidental ou oswaldiano, é um mito também dos índios. Antigamente, as mulheres... eram os homens que menstruavam e as mulheres mandavam. As mulheres mandavam porque elas tinham as flautas – as flautas são instrumentos evidentemente fálicos e ao mesmo tempo ocos –, então é como um falo uterino, um útero fálico, que se sopra. É um instrumento, sob determinado ponto de vista, das suas significações genitais, sexuais e procriativas. As mulheres usam flautas e os homens menstruavam. Aconteceram então várias vicissitudes em que os homens roubam as flautas das mulheres, as mulheres passam a menstruar e os homens passam a ser os donos das flautas e, portanto, os guardiões do sagrado. E as mulheres se tornam seres profanos, relegadas “à periferia”, que é onde realmente as coisas que contam se passam: produção alimentar, a cozinha, o genro caça e tem que levar a caça para a sogra para ela dividir para a família etc. Mas tem essa “casa dos homens”, como é frequentemente chamada, no centro da aldeia em que se assegura a função masculina, uma posição, uma eminência simbólica da função masculina. Se você perguntar para os índios, eles vão dizer: são os homens que mandam. Mas quando você vir como funciona, os homens mandam na medida em que eles são os guardiões do sagrado. Mas a vida política da aldeia é – toda ela – controlada pelas mulheres porque as mulheres são os corpos de parentes que se encontram nas casas. Há então uma série de sutilezas nisso.










