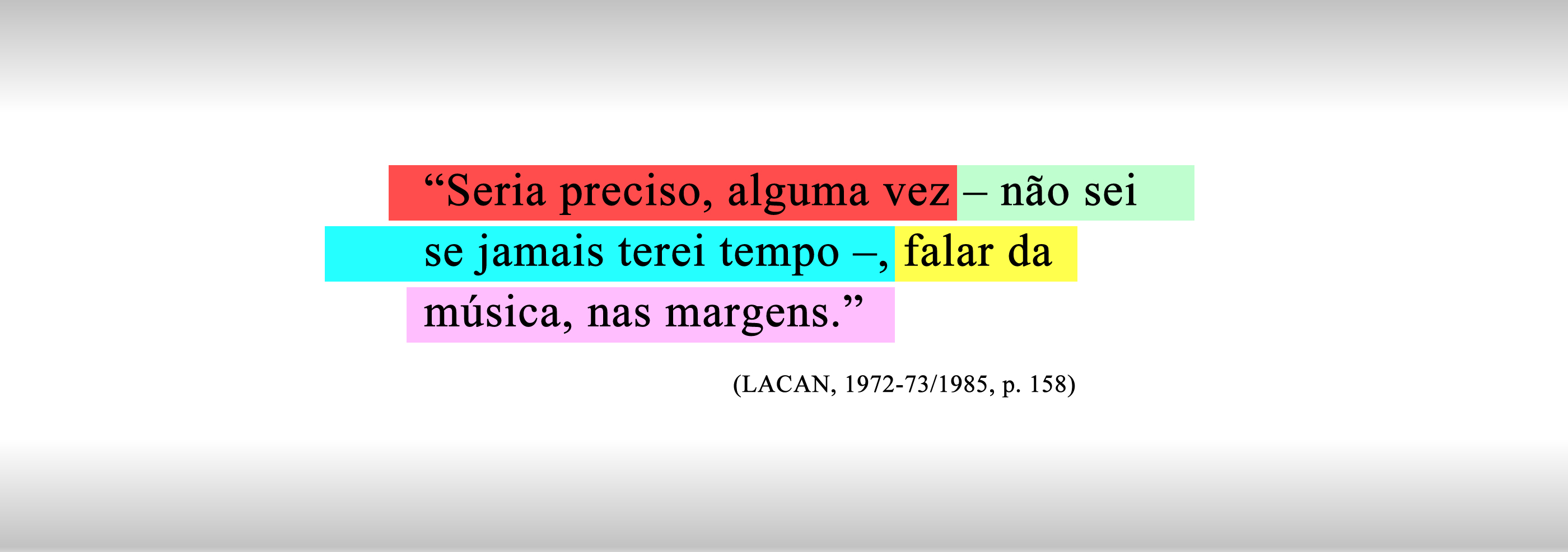
O falo
Achilles Mbembe
De mais a mais, a história da sexualidade na África ainda não foi escrita. Quando for escrita, não será uma história de repetição, nem mesmo necessariamente de diferença, ainda que exista, mas, sim, uma história da gemelaridade e da inversão, da alegria e da festa. Será a história do que necessariamente vai além das atribuições originais para melhor manifestar o princípio da ambivalência. Será a história da luta entre o sujeito e seu corpo – cujo desafio, a cada vez, é inaugurar novas possibilidades expressivas, é trazer singularidades à tona, por meio da composição.
De fato, por mais que se tente fazer do ser humano um objeto, há sempre algo de sua humanidade que escapa a essa redução objetal, a esse desejo de objetificação. Os indivíduos podem ser calados, mas ainda assim são capazes, por meio do olhar, de articular um gesto, de esboçar uma palavra silenciosa que, apesar de tudo, interpela. Seus corpos podem ser exibidos como troféus ou como cenários, mas seus eus eludem o espetáculo. O corpo está lá, mas o eu está em outro lugar. É inerente à violência colonial dissociar o eu de suas aparências, forçar o dominado a aparecer apenas na forma da ausência, do oco e do vazio. E, nesse vazio, geralmente vêm se alojar o racismo e seu mundo de fantasias.
Acontece que o estatuto do falo no imaginário africano, ou ao menos na arte e escultura dos povos africanos, apresenta inúmeras semelhanças com o do falo grego. Em qualquer dos casos, como sujeito esculpido, o falo, aqui, define-se, antes de mais nada, por seu enorme poder de afirmação. É o nome de uma força totalmente afirmativa. Do ponto de vista antropológico e fenomenológico, é isso que o liga tão estreitamente ao poder, ele próprio concebido como processo, como julgamento.
Decorre que, aqui, o poder não é dotado apenas de um falo que funciona como um emblema ou adorno. O poder é falo. O poder só será possuído se for escarranchado. E o falo é o agente principal dessa operação de montaria. Esse agente principal tem a pretensão de agir como fonte de movimento e energia. Ele opera como um Sujeito que busca tudo cavalgar. É por isso se ele se dedica a uma ginástica permanente, a um carrossel. Daí a mistura de violência e comédia de que trata parte da literatura contemporânea. A falocracia, desse ponto de vista, é uma dimensão do brutalismo. Ela é fundamentalmente uma formação de poder, uma série de dispositivos institucionais, corporais e psíquicos que operam com base na crença de que é no falo (e, portanto, no masculino) que algo se passa; que é no falo e por meio dele que há um acontecimento; que, de fato, o falo é o evento.
A crença de que, no fim das contas, o poder é o esforço que o falo emprega sobre si mesmo para se tornar Figura está na base do brutalismo. Essa crença continua a operar como o não-dito, o subterrâneo, até mesmo o horizonte da nossa modernidade, mesmo que muito poucos queiram ouvir sobre isso. O mesmo se aplica à crença de que o falo só é falo no movimento pelo qual tenta escapar do corpo e obter sua própria autonomia. E é essa tentativa de escape, ou mesmo esse ímpeto, que produz espasmos, sendo justamente por meio dessa violência e desses ímpetos espasmódicos que a falocracia revela sua identidade.
Foi demonstrado alhures como, nas condições pós-coloniais, os espasmos e a violência por meio dos quais se crê reconhecer e identificar o poder e suas vibrações apenas definem o contorno do volume oco e achatado desse mesmo poder. Pois, por mais que o falo se dilate, essa dilatação é sempre seguida por uma contração e por uma dissipação, uma detumescência. Além disso, tem-se argumentado que, nas condições pós-coloniais, o poder que faz o sujeito gemer e que lhe arranca do peito gritos incessantes só seria capaz de ser um poder vinculado à sua bestialidade – ao seu espírito-cão, espírito-porco, espírito-canalha. Só pode se tratar de um poder dotado de matéria corporal, de uma carcaça, cujo falo é, ao mesmo tempo, a manifestação mais cintilante e a superfície sombreada. Um poder que é falo no sentido que acaba de ser definido só é capaz de se apresentar a seus sujeitos recoberto por uma caveira. É essa caveira que os leva a gritar como fazem e que faz com que a vida deles seja quase zoológica.
É sabido, por exemplo, que o linchamento de homens negros no sul dos Estados Unidos durante a época da escravidão e após a Proclamação da Emancipação teve origem, em parte, no desejo de castrá-los. Tomado de angústia quanto ao seu próprio potencial sexual, o “branco pobre” racista e o fazendeiro são tomados de terror ao pensar no “gládio negro”, do qual temem não apenas o suposto volume, mas também a essência penetrante e assaltante. No ato obsceno que é o linchamento, tenta-se, assim, proteger a suposta pureza da mulher branca, mantendo o Negro no mesmo nível de sua morte. O que se almeja é levá-lo a contemplar a extinção e o obscurecimento daquilo que, na fantasmagoria racista, é considerado seu "sol sublime", seu falo. A laceração da masculinidade deve passar pela transformação dos genitais em campo de ruínas – apartando-os do contato com as forças vitais. Isso porque, como bem disse Fanon, nessa configuração, o negro não existe. Ou melhor, o negro é, antes de tudo, um membro.
O superinvestimento na virilidade como recurso simbólico e político não é apenas um efeito histórico das técnicas de desumanização e de desvirilização que caracterizaram o regime da plantation sob a escravidão ou sobre a governamentalidade colonial. Esse superinvestimento faz parte da vida inerente a qualquer forma de poder, inclusive nas democracias liberais. Essa é, na verdade, a mais pura atividade do poder em geral, o que lhe confere presteza e, consequentemente, violência. A virilidade representa o meridiano do poder em geral, sua zona frenética.
A respeito disso, basta observar de perto o que está acontecendo hoje. Numa época em que há quem queira nos fazer crer que o "islamofascismo" é o maior de todos os perigos, não estarão as guerras em curso contra os países muçulmanos sendo vivenciadas como momentos de "descarrego", cujo valor paradigmático decorre precisamente do fato de que esse descarrego se opera segundo o modelo da ereção do órgão genital masculino, com as tecnologias de ponta desempenhando nesse sentido o papel de objetos de ataque que possibilitam uma determinada modalidade coito – o nacionalismo racial?
Em grande medida, não terão essas guerras as bolsas de valores por objeto – pelo que se deve entender as lógicas de abordagem da luta até a morte (a guerra, justamente) pela lógica do lucro? Não será cada bombardeio a alta altitude, cada sessão de tortura nas prisões secretas da Europa e de outros lugares, cada disparo guiado a laser, não são eles a manifestação de um orgasmo viril, o Ocidente se esvaziando ao fazer da destruição dos Estados declarados inimigos o próprio farol do gozo na era da tecnologia avançada? De que outra forma se pode compreender essa embriaguez pela destruição, a devassidão massiva que a acompanha, o cortejo de bebedeiras, estupros e orgias, zombarias e obscenidades?
Seria ingênuo questionar as funções das guerras contemporâneas e sua economia política ignorando a erótica racista e masculina que as lubrifica e que é um dos seus componentes essenciais ou mesmo ocultando sua essência teopornológica. Na violência sem objetivo nem sentido que marca a nossa época, há uma maneira de projetar a imaginação viril e o desejo perverso que seria impróprio subestimar. A produção do nacionalismo racial na era neoliberal depende, ela também, de muitas silhuetas femininas. Subjacente a essas silhuetas está sempre o "pai", quer dizer, aquele que, sozinho, goza do estatuto de primeiro "plantador" (poder de engendramento e fecundação). De resto, a cultura neoliberal contemporânea é assombrada pela figura do pai incestuoso, movido pelo desejo de consumir sua donzela ou seu menino, ou de anexar as filhas ao seu próprio corpo, com o intuito de se servir deles como complemento à estatura faltosa do homem.
A extrema estilização da referência fálica e o investimento na feminilidade e na maternidade visam situar o gozo sexual na esteira de uma política secular de arrebatamento. Mas a forma como o poder incansavelmente solicita o corpo (tanto dos homens quanto das mulheres) e o in-forma, trabalha e perpassa, delimitando-o como uma ampla zona destinada a satisfazer e suprir todos os tipos de pulsões, não é menos marcada pela brutalidade. É evidente que isso não tem nada de "africano", se por esse termo polêmico se entende uma força obscura e psicótica, emparedada em um tempo por assim dizer pré-ético, pré-político e pré-moderno, um mundo à parte, em suma.
Além disso, o que é impressionante na África é a extraordinária riqueza simbólica da relação com o corpo e com o sexo. Corpo e sexo são, por definição, plurais. Como em quase tudo o mais, eles são o resultado de operações de composição e montagem. A diferença sexual se corporifica fundamentalmente a partir dos mais variados tipos de ambiguidades, inversões e metamorfoses. Fora desse campo de ambivalência, ela significa muito pouco. Tanto o corpo quanto a sexualidade fora do poder sempre se abrem para um campo de dispersão e, portanto, de ambivalência. Nesse terreno, como no da arte e sobretudo no da música e da dança, é a lógica dos significados inesperados que prevalece.
O corpo não é algo que simplesmente se tem. O corpo é algo que se vive, de preferência como um símbolo da ambivalência absoluta – a ambivalência do símbolo justamente como aquilo que libera o desejo, que o afasta das malhas do poder que tenta colonizá-lo. É por isso que o corpo e o sexo vividos só são corpo e sexo na medida em que se abrem para toda sorte de potencialidades expressivas, para a singularidade. Basta ver como os africanos se vestem, como utilizam ornamentos, como dançam. Como assegurar que essas potencialidades expressivas escapem da linguagem das necessidades induzidas e dos desejos manipulados (o código do capital)? Ou que continuem a manifestar a certeza da vida diante de todo tipo de ameaças que visam destruí-la, depois de terem desvalorizado seu significado? São essas as questões de fundo.
Elas são muito mais importantes que a manipulação feita no Ocidente do tema do respeito às mulheres, a fim de postular uma superioridade cultural qualquer. Como na época colonial, a interpretação desvalorizante da maneira como o negro ou o muçulmano trata "suas mulheres" faz parte de uma mescla de voyeurismo, horror e inveja – a inveja do harém. A manipulação das questões de gênero para fins racistas, por meio do destaque dado à dominação masculina no Outro, visa quase sempre obscurecer a realidade da falocracia em casa.
Resta examinar de que forma as sucessivas crises do último quartel do século XX na África afetaram de distintas maneiras as relações entre homens e mulheres, e também entre provedores e dependentes. Em alguns casos, elas contribuíram para aprofundar as desigualdades já existentes entre os sexos. Em outros, acarretaram uma profunda mudança nos termos gerais nos quais e pelos quais passaram a se expressar tanto a dominação masculina quanto a feminilidade.
Entre os setores mais pobres da população, o posto de chefe de família, geralmente ocupado pelos homens, passou por uma aparente desqualificação, especialmente nos lugares em que o poder de prover não podia mais ser exercido plenamente devido à falta de meios materiais. O novo ciclo de lutas pela subsistência, gerado pela crise e pela austeridade, paradoxalmente abriu possibilidades de movimento para um número relativamente pouco elevado, mas influente, de mulheres, especialmente em certas esferas da vida material relacionadas à informalidade. Essas possibilidades ampliadas de mobilidade foram acompanhadas por um questionamento renovado das prerrogativas masculinas e por uma intensificação da violência entre os sexos.
Esses deslocamentos, por sua vez, acarretaram duas consequências importantes. Por um lado, um dos pilares da dominação masculina, a saber, a noção de dívida com a família, foi fortemente abalada e passou a ser objeto de contestação. De fato, até recentemente, era em torno dessa noção que se baseavam a relação entre homens e mulheres e a relação entre homens e crianças no seio da família. Uma das pedras angulares dos sistemas falocráticos africanos era, na verdade, a ideia da dívida do filho para com o pai e a ideia da complementaridade na desigualdade entre homens e mulheres. A relação entre homem e mulher no seio da família se assentava em uma lógica dupla: a da apropriação e a da instrumentalidade recíproca entre os desiguais. Tanto em relação à mulher quanto à criança, a prerrogativa masculina consistia em nutrir, proteger e orientar, e em contrapartida se exercia uma dominação fundada na discriminação hereditária. Em grande medida, porém, a dominação política, em senso estrito, se apoia nos mesmos quadros ideológicos que se estendem às esferas civil e militar, com os “de cima" desempenhando, em relação aos subordinados, as mesmas funções e tendo os mesmos atributos que o pai dentro da unidade familiar. Um processo de desmasculinização atinge todos os dominados como um todo, enquanto o prazer da dominação masculina propriamente dita se torna privilégio exclusivo, pelo menos no campo político, de alguns poucos.
De qualquer maneira, durante o último quartel do século XX, o falo como um significante central do poder e apanágio da dominação masculina sofreu profundos questionamentos. Tal contestação foi expressa de diferentes maneiras. Algumas assumiram a forma de instabilidade conjugal e de uma circulação relativamente crônica das mulheres [no sentido antropológico da teoria geral da troca, do sentido estrutural de estudar as relações de parentesco em Lévi-Strauss]. Outros se expressaram sob a forma de pânicos urbanos, no centro dos quais estava o medo da castração. O falo, certamente, continua a representar um signo essencialmente diferenciador. No entanto, suas funções primordiais estão ainda mais difusas, pois se assiste a uma desvirilização dos subalternos na escala social, sob o efeito de diversas forças.
| A reprodução parcial deste texto sem fins lucrativos, para uso privado ou coletivo, em qualquer meio impresso ou eletrônico, está autorizada pela n-1 edições, desde que citada a fonte. MBEMBE, Achille. O phallos. In: MBEMBE, Achille. Brutalismo. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: n-1 edições, 2021. p. xx-xx. |










